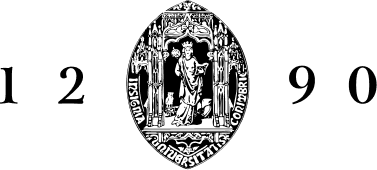A resiliência como elemento fundamental para ultrapassar os incêndios
Os incêndios marcam anualmente a história de Portugal. Em anos particularmente duros, como em 2017, ouvimos, vimos e lemos meses a fio sobre a dor e a perda das famílias fortemente impactadas por estes desastres naturais. Com o objetivo de ver além da dor destas famílias, Vitória Ferreira, estudante do programa interuniversitário de doutoramento em Psicologia, na área de especialização em Psicologia Clínica - área temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar, está a desenvolver o projeto “Facing the heat: Famílias e comunidades resilientes na adaptação aos incêndios rurais e às alterações climáticas”, orientado por Ana Paula Relvas e Luciana Sotero. Com esta investigação, a estudante da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa (as duas instituições que cooperam neste programa doutoral) pretende trabalhar com famílias e comunidades que foram assoladas pelos incêndios, procurando perceber a sua resiliência – a forma como recuperam depois do choque – em busca de novas propostas de abordagem que permitam fortalecer a resiliência nos períodos de crise, mas também nos momentos antes e depois do desastre.
Este projeto procura explorar os processos que contribuem para a resiliência familiar e comunitária em situações de crise, mais especificamente face aos incêndios e às alterações climáticas. O nosso intuito é aumentar o conhecimento científico sobre a adaptação das famílias e comunidades a situações de risco relacionadas com este tipo de desastres.
O nosso foco são as famílias e as comunidades enquanto elementos resilientes e capazes de lidar com estes riscos, deslocando-nos de uma perspetiva focada no trauma e centrando-nos nas pessoas e na sua capacidade para serem resilientes face a estes desafios.
Já tinha o objetivo de trabalhar a área dos desastres, mais precisamente relacionados com o clima, e a escolha das famílias e das comunidades como sujeitos de estudo sempre fez mais sentido do que trabalhar este tema de uma perspetiva individual. Esta minha vontade colidiu com o facto de já existir um projeto de doutoramento previsto que pretendia trabalhar a família neste contexto dos incêndios. Foi um bom momento, em que se cruzaram estas duas linhas, e achei que era a altura certa para agarrar a oportunidade.
Pretendemos focar as famílias e as comunidades como sistemas interconectados que experienciam os impactos prejudiciais dos incêndios, mas também como agentes cruciais e competentes na sua gestão. Acreditamos que esta mudança de visão pode ajudar a transformar os modelos de gestão de risco face às adversidades, ao focarmos os processos de resiliência e de adaptação das pessoas.
Por norma, é mais fácil olhar para estas comunidades como pessoas que viveram o evento. E é fácil focar o sofrimento delas, mas penso que também podemos ver isto de outra forma, olhando para a capacidade de superarem aquele sofrimento e de se regenerarem. É uma visão pouco frequente, mas é uma visão importante, porque estas comunidades foram, são e serão capazes no futuro de resistir.
O projeto é misto, tendo duas fases: uma quantitativa e outra qualitativa. A fase quantitativa é feita com a população residente em Portugal, para nos ajudar a compreender a relação da resiliência familiar e comunitária com a perceção de risco das pessoas, assim como uma eventual experiência prévia com incêndios. Queremos também identificar as crenças das pessoas sobre os incêndios, de que forma é que estas crenças alteram ou não as suas perceções de sustentabilidade, das alterações climáticas, e os comportamentos pró-ambientais que adotam ou não, e como é o seu funcionamento familiar das pessoas no paradigma da crise climática.
Na segunda parte, esta qualitativa, pretendemos fazer entrevistas familiares, com famílias residentes em quatro zonas de risco da Região Centro de Portugal: Oliveira do Hospital, Vila Nova de Poiares, Tábua e Arganil. Queremos compreender as experiências subjetivas das famílias nestas localidades. E, principalmente, queremos identificar processos psicológicos que possam contribuir para o desenvolvimento da resiliência familiar. Neste caso, vamos procurar recolher dados sobre a história e estrutura familiares, sobre a estrutura de poder dentro da família, sobre a flexibilidade, sobre os sistemas de crenças, sobre a comunicação no seio da família e com a comunidade à sua volta, sobre as relações com a comunidade em que está inserida. Tudo isto dentro da perspetiva dos incêndios.
É uma entrevista com uma unidade familiar, com os vários elementos da família, que nunca foi aplicada em situações de incêndios, que incluiu conversas e tarefas, algumas para fazerem em conjunto e outras direcionadas a cada membro da família para perceber como é que é, face aos exercícios que lhes damos, resolvem os exercícios, os dilemas e como se organizam e resolvem as tarefas entre eles como família.
Pretendemos que o projeto contribua para o desenvolvimento de um modelo empírico e teórico de construção de resiliência, que possa ter implicações na intervenção psicológica nas diferentes fases de situações de emergência, seja na prevenção, na preparação, na resposta ou na recuperação. Estamos a trabalhar neste projeto para que seja possível produzir algo que possa ser utilizado para fortalecer a resiliência não só durante os períodos de crise, mas também nos períodos antes e depois da crise.
O mais desafiante até ao momento foi estar perante áreas tão vastas – como a resiliência, os desastres e as alterações climáticas – e conseguir decidir quais seriam os meus focos de atenção e de investigação. Esta seleção é essencial na construção de um projeto de investigação de doutoramento, porque o tempo de que dispomos é finito. Não podemos atender a todas as áreas que gostaríamos. Por isso, o maior desafio foi conseguir selecionar o meu foco de trabalho e o que posso deixar para, no futuro, vir também a investigar.
Sim, já previa seguir a carreira académica, embora tenha gostado muito da parte clínica. No futuro, se possível, gostaria de desenvolver as duas em simultâneo, porque acredito que a prática vai informar e melhorar a maneira como investigamos e ensinamos; da mesma maneira que a investigação e o ensino também informam a maneira como podemos cuidar das pessoas.
Acabei por ver o meu destino voltado para a área académica porque já tinha ouvido relatos do percurso no ensino superior por parte de outras pessoas da família. E sempre achei muito fascinante a possibilidade de produzir conhecimento e partilhá-lo como forma de construir algo muito maior do que aquilo que individualmente podemos fazer.
A minha primeira dica é: cultivem uma rede de suporte que vos acompanhe ao longo de todo o percurso do projeto, nos piores e nos melhores momentos. A segunda dica é: tentem fortalecer o vosso sentido de humor, porque a capacidade de rir em momentos mais complicados é uma excelente forma de vermos este tempo da nossa vida de outra perspetiva, mais leve.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Paulo Amaral, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 05.06.2023