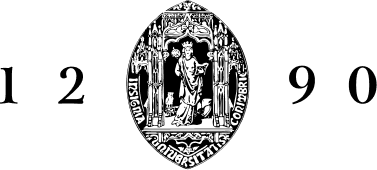Relatar a experiência de gravidez, parto e pós-parto de mulheres negras e afrodescendentes para chamar a atenção para o racismo nos cuidados de saúde
Começou por querer ser professora, mas as dimensões social e cultural da Antropologia acabaram por despoletar na Laura Brito a curiosidade pela investigação. Hoje, a estudante do doutoramento em Pós-Colonialismos e Cidadania Global, que resulta de parceria entre o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, encontra-se a desenvolver o projeto de doutoramento Interseção de raça, género e classe - uma análise das experiências de gravidez, parto e pós-parto das mães negras e afrodescendentes em Lisboa, orientado por João Arriscado Nunes e coorientado por Susana Noronha. Apesar de ser uma investigação que toca em memórias traumáticas das mulheres inquiridas, é também um espaço onde estas mulheres se sentem seguras para falar do seu sofrimento e das suas histórias de vida, sabendo que as suas palavras são escutadas, mas, acima de tudo, utilizadas para dar voz a esta realidade.
Gostava de dizer que isto tem um fundamento um bocadinho mais concreto, mas, na verdade, é uma sucessão de azares, que, na realidade, para mim foram sortes. Quando acabei o mestrado, o meu orientador da dissertação, o doutor Jorge Varanda, convidou-me para fazer parte de um projeto de curta duração para a recuperação do arquivo da Companhia de Diamantes de Angola. O trabalho não passava apenas pela reparação da parte documental (estávamos a fazer digitalização e análise de documentos), tinha também um trabalho de fundo sobre o contexto. E foi a partir daí que comecei a ter contacto com a Sociologia e com o Pós-Colonismo, muito embora nessa altura não fizesse essa associação, porque há uma certa separação entre aquilo que estudamos na Antropologia em relação ao colonismo daquilo que se estuda na Sociologia.
Depois dessa bolsa ter terminado, tive de procurar outras oportunidades e abriu uma bolsa, à qual me candidatei, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para o projeto ETHOS - Towards the European Theory of Justice and Fairness, sobre a noção de justiça de uma forma alargada, não justiça formal. A ideia passava por entender – em articulação com outros cinco países da Europa – a noção de justiça na realidade das pessoas e como é que a crise económica de 2008-2018 afetou a perspetiva que a pessoas têm relativamente à justiça e ao acesso a ela. Este projeto tinha uma abordagem a partir das Epistemologias do Sul e toda essa componente teórica e filosófica foi aplicada aos nossos estudos de caso. A partir daí, comecei a banhar-me muito nesse mundo. E calhou que no momento em que acabava essa bolsa iniciava o programa de doutoramento que frequento. Concorri à atribuição de bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), consegui bolsa e conforme acabo a bolsa no projeto de investigação ETHOS começo o doutoramento.
Quando ingressei em Antropologia, queria seguir para a área biológica. Queria trabalhar em Ciências Forenses, em algo que me permitisse estar mais com as mãos no terreno, digamos assim. Durante a licenciatura, as coisas acabaram por mudar, porque ela está construída para termos contacto com as várias dimensões da Antropologia, e, claramente, a parte social e cultural começou-me a interessar mais e comecei a ver mais potencial nessa parte do que propriamente na parte biológica. O meu objetivo inicial de vida era ser professora, não sendo, portanto, a investigação o meu objetivo principal em termos de carreira. Mas quando estamos imersos no mundo da universidade em determinado momento o bichinho da investigação acaba sempre por nascer. A investigação é muito interessante, porque não só tem a parte de estudar o que outras pessoas já fizeram (que é algo que me agrada), como tem a parte de nos permitir fazer coisas novas, articulando as duas dimensões para promover um bocadinho de mudanças, que, mesmo que sejam pequenas e simples, são sempre alguma coisa.
O objetivo inicial era caracterizar a violência obstétrica em Portugal. Inicialmente, era essa a minha ideia, mas o projeto foi afunilando por causa de uma série de azares e de encontros pela vida e passou a ser sobre a experiência subjetiva de mulheres negras e afrodescendentes no contacto com os cuidados de saúde materna em Lisboa. E o estudo decorre em Lisboa por questões demográficas e também de acesso ao campo (estou a trabalhar com o coletivo SaMaNe - Saúde das Mães Negras, que atua nessa área). O objetivo passa por dar voz a essas mulheres e tornar essas experiências mais palpáveis.
Temos muita informação sobre outros contextos – sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos da América, França também começa a fazer algumas coisas, Espanha tem trabalho feito sobretudo com mulheres da comunidade cigana – e em Portugal isto é um não assunto. Como não há recolha de dados étnico-racionais, não há tratamento dessa informação. E a única forma de tentar perceber se Portugal tem um padrão semelhante aos outros lugares – que em princípio terá, porque não temos nenhum tipo de excecionalidade nessa matéria – é através das experiências narradas pelas mulheres. O projeto procura também entender de que forma é que, no contexto português, essas violências e opressões de género, de raça, de classes e de outras partes das identidades das pessoas afeta não só a sua experiência de gravidez, parto e pós-parto, como afeta, no geral, o contacto com os serviços de saúde.
Gostava que se fizesse justiça, porque há casos que são mesmo muito violentos. Também acho que fazer chegar estas informações e estes estudos da Sociologia, da Antropologia, e das Ciências Sociais no geral aos estudantes de Medicina e às escolas de Medicina de todo o país é uma forma de sensibilizar. Isto porque uma coisa é falar sempre no abstrato, de outros lugares e com exemplos de outros países; outra coisa é olhar para os casos reais do nosso terreno, porque a sensibilidade torna-se outra. O que importa não é quem fez e agiu mal, porque o meu problema não se coloca com os profissionais de saúde. Coloca-se, sim, com a Medicina no seu global sistema de saúde e na forma como ele atua em relação a estes corpos de mulheres negras e afrodescendentes. E eu acho que, quando os profissionais de saúde estão a aprender, se já tiverem em mente o que aconteceu neste âmbito, vão estar atentos para não repetir esses erros, porque a Medicina não se aprende só em teoria, aprende-se muito a ver fazer e a fazer também. E ter estudos de casos reais pode ser muito útil para a prática clínica.
Outro contributo que gostaria de deixar seria, idealmente, a criação de políticas públicas que ajudassem na adaptação do Serviço Nacional de Saúde para ser mais sensível a estas situações. No trabalho que tenho desenvolvido, o foco tem sido em mulheres que já são de segunda e terceira geração, que já nasceram cá e, por isso, não há a componente da migração. Mas quando falamos de mulheres que migram, e que não entendem assim tão bem a língua portuguesa, a situação pode tornar-se complicada, mesmo que na Lei de Bases da Saúde esteja definido que todas as mulheres têm o direito a um tradutor presente.
Há um questionário que está online, ainda a decorrer e a receber dados, dividido em quatro partes: a biografia da pessoa, a gravidez, o parto e o pós-parto. E pede-se à mulher não apenas para relatar a experiência, em partes com questões abertas, como também tem uma parte mais objetiva, em que são colocadas questões fechadas sobre intervenções específicas, porque sabemos que há coisas que tendem a ser padrão em determinadas intervenções e procuramos confirmar se elas existem ou não existem. E esta parte foi colocada no questionário porque há uma questão importante relacionada com as mulheres negras em comparação com as mulheres brancas: a neglicência aparece de outra forma. Enquanto que nas mulheres brancas vai haver um excesso de intervenção durante essa fase da vida, nas mulheres negras há a tendência de haver menos intervenção. E sim, menor intervenção pode ser uma forma de negligência e pode tornar-se numa forma de violência, como por exemplo, ter uma mulher a pedir muito para ter anestesia e ela ser-lhe negada. Se olharmos para isto numa perspetiva de humanização do parto, no caso das mulheres brancas pode ser um processo de tentar usar outros métodos, mas no caso das mulheres racionalizadas pode estar relacionado com o estereótipo sobre a resistência à dor das mulheres negras. É um lastro do racismo científico que ainda surge, por vezes, em determinados contextos. No final do questionário, temos ainda um espaço para que possam partilhar algumas palavras, boas ou más, que tenha sido ditas por profissionais médicos ou administrativos ou pelos seus acompanhantes que as tenha marcado.
Tenho feito também entrevistas individuais e rodas de conversa. As rodas de conversa servem também de terapia de grupo, sem ser bem uma terapia porque não tenho essa valência. Mas assenta muito na ideia da cura pela palavra, porque ouvir que não foram as únicas a passar por aquilo ajuda a curar as dores e a colmatar algumas falhas que possam ter existido.
O mais difícil é ter a noção do tempo que as coisas demoram a fazer. Temos sempre tendência para pensar que há muito tempo e que dá para fazer muita coisa. Mas a maior parte dos processos demora muito mais do que aquilo que pensamos. Por exemplo, podemos pensar que num mês escrevemos um capítulo, mas isso pode não acontecer, porque a nossa vida não é só o trabalho e há outras coisas a acontecer.
Ter a perceção do tempo que as coisas demoram a ser feitas é difícil. E aqui entra também o papel dos orientadores e dos coordenadores, que ajudam as pessoas a terem um bocadinho de calma e tentam trazer-nos à realidade e ao que realmente vamos conseguir fazer em determinados períodos de tempo e a planear novamente determinadas tarefas em função da nossa gestão pessoal.
No meu caso, ainda tenho a agravante de ter começado o doutoramento durante a pandemia e, por isso, tive não só que gerir os confinamentos, como os pós-confinamentos. Por exemplo, quando construí o meu projeto, um dos planos b seria fazer online o que não fosse possível fazer presencialmente, mas isso esquecia o facto de, ao fim de dois anos, as pessoas já não quererem estar online. E o presencial nem sempre é possível por outros motivos que não a pandemia.
Outra questão que também é bastante complexa de pensar é toda a parte do estado da arte, porque há muita informação para gerir. No meu caso, tenho muito a necessidade de querer explicar tudo, mas, ao mesmo tempo, também não podemos escrever como se estivéssemos a explicar o tema a um público completamente ignorante sobre o assunto. É preciso gerir muito bem este processo da informação que vamos apresentar. Não vamos contar toda a história da humanidade até chegar àquele momento. No entanto, é preciso contexto e precisamos de saber que parte e que quantidade desse contexto é importante, indicando o que vai ser necessário para dar sustento à ideia final que vamos apresentar no nosso projeto de doutoramento.
A gestão do tempo é realmente muito importante. Uma coisa que se calhar gostava que me tivessem dito é: não olhar para o objetivo final do projeto de forma isolada. Devemos pensar na tese em blocos e não como algo com partes desagregadas. O estado da arte, a abordagem metodológica e o trabalho de campo devem estar em diálogo e devemos saber sempre que temas e perguntas vamos abordar, dividindo tarefa a tarefa, de forma minuciosa, para termos a noção do tempo que vamos precisar.
Outro conselho que deixaria é que devemos ter sempre presente o porquê de estarmos a fazer um doutoramento do ponto de vista pessoal. Devemos saber o que é que nos move neste percurso. O meu orientador de mestrado costumava dizer que a tese é um túnel. E vai chegar a um ponto em que não há luz em lado nenhum, nem atrás nem à frente, mas é preciso continuar a avançar. E essa luz ao fundo do túnel é o nosso porquê, o que nos move para fazer a tese. E não precisamos de querer mudar o mundo, podemos simplesmente querer o grau, mas precisamos de ter sempre em mente por que motivo estamos aqui. Devemos também lembrar-nos sempre, especialmente nos momento mais difíceis, que isto é um momento da vida, que um dia vai terminar.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Ana Bartolomeu, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 14.07.2022