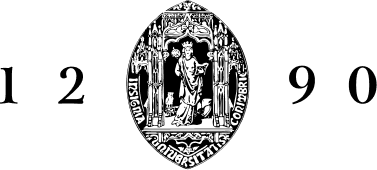"Como são organizados os objetos no cérebro" é o tema do projeto de doutoramento de Daniela Valério, estudante do Doutoramento em Psicologia. Estivemos à conversa com a doutoranda da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra sobre os objetos enquanto contribuidores para descobrir mais sobre o funcionamento do nosso cérebro e também sobre os desafios de conduzir um projeto de investigação de Doutoramento.
No nosso dia a dia, nós manipulamos e reconhecemos muitos objetos, um processo que é tão automático que nem pensamos muito sobre isso. Por exemplo, na primeira meia hora do meu dia, usei a minha escova de dentes, a minha pasta de dentes, a minha escova de cabelo, o meu perfume, as minhas roupas, uma faca, uma colher, uma caneca e tantos outros objetos. Esta capacidade de usar objetos é muito típica dos humanos e não é compartilhada com outras espécies, não nesta extensão. E ainda se pensarmos num objeto típico, por exemplo um copo, vamos descobrir que sabemos muitas coisas sobre copos. Sabemos o nome, a função, conseguimos reconhecer um copo independentemente da textura, da forma, do material, da cor, sabemos onde os encontramos, sabemos um conjunto de informações que vamos adquirindo ao longo da nossa vida, desde a fragilidade dos copos aos diferentes modelos. Esta capacidade de manipular objetos foi também muito importante para a evolução da nossa espécie, dado que a destreza manual, esta capacidade de usar objetos, foi um importante percursor de muitas capacidades cognitivas superiores. E existe no nosso cérebro um circuito neuronal que está mais ativo sempre que vemos um objeto. E é com base nesta informação que nós tentamos compreender como é que a informação de objetos está organizada no nosso cérebro.
Nós sabemos que o nosso cérebro tem de ter uma determinada organização para dar significado ao mundo. Sabemos, por exemplo, que o córtex auditivo está organizado com base nas frequências, sons mais agudos estão mais próximos uns dos outros e sons mais graves estão representados no córtex de forma mais distante. Uma das hipóteses do projeto é que acontece exatamente o mesmo com os objetos no nosso cérebro. Ou seja, os objetos estão organizados com base na sua similaridade. Isto significa que, por exemplo, um copo e uma garrafa seriam mais próximos um do outro, do que um copo e um agrafador. Resumidamente, é isto que nós, neste momento, estamos a estudar e a tentar perceber se é ou não verdade.
Este projeto assenta na Neurociência Básica. Ou seja, queremos compreender como é que o nosso cérebro funciona não para amanhã aplicarmos a descoberta na Medicina ou num produto, mas pela pura compreensão de como é que o cérebro funciona. Isto não significa que mais tarde não possa ter aplicações práticas, mas, neste momento, esse não é o nosso principal objetivo. Por exemplo, se compreendemos como é que a informação de objetos está organizada no cérebro, poderemos contribuir para a compreensão de doenças motoras e de futuros tratamentos. Ou, por exemplo, poderemos também contribuir para a Robótica. Um dos grandes desafios da Robótica é a inteligência artificial conseguir reconhecer e manipular a multiplicidade de objetos que existem. Se compreendermos como é que isto se processa no nosso cérebro, a Robótica pode replicar esse modelo biológico na inteligência artificial e copiar esta máquina que todos temos.
Nós fizemos algumas experiências comportamentais em que medimos tempos de reação e precisão de resposta. Por exemplo, foi dada uma tarefa muito simples em que as pessoas só tinham de pressionar um botão quando viam um objeto diferente e não lhes dissemos o objetivo do estudo. Os nossos resultados, para já, são muito consistentes e mostram que os participantes têm mais dificuldades e demoram mais tempo a detetar a diferença entre dois objetos quando eles são mais similares, por exemplo um copo e uma garrafa; e, por outro lado, eles são mais rápidos e demoram menos tempo a compreender a diferença entre dois objetos que são mais diferentes, como por exemplo um copo e uma buzina. Os participantes vão também para a ressonância magnética funcional, onde fazem a mesma tarefa com objetos e, posteriormente, nós vamos analisar quais as áreas cerebrais que estão ativas e como é que elas reagem às mudanças entre os objetos, de forma a tentarmos compreender se existe um mapeamento cerebral de objetos com base na sua similaridade. Também temos algumas técnicas de neuroestimulação elétrica, ou seja, estimulamos uma determinada área do cérebro, do circuito que é importante para os objetos, e procuramos perceber se isso tem ou não influência na interação das pessoas com os objetos.
Para mim, os grandes desafios têm sido os imprevistos. E o maior exemplo disso é a pandemia. Nós tínhamos um conjunto de objetivos, um conjunto de planos e estamos constantemente a alterar com aquilo que é possível fazer: tentamos outras experiências, tentamos fazer a partir de casa... Felizmente, tenho tido a ajuda do meu orientador, de alguém que tem muito mais conhecimento, que consegue visualizar todo o processo de investigação, tarefa que para quem está a começar é sempre muito difícil. No meu caso, não achei muito difícil a construção do projeto de doutoramento, o meu orientador tem muita experiência na escrita de projetos e, em conjunto com ele, acho que foi relativamente fácil colocar tudo no papel. Mas seguir toda a informação que colocamos no papel é sempre difícil, especialmente no contexto em que todos estamos a viver com limitações constantes.
Sim, quando entrei em Psicologia, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, o meu objetivo era estudar o cérebro e seguir Neurociência Cognitiva. Provavelmente, não imaginaria que iria estudar Neurociência Básica e organização de objetos no cérebro. Falando com o meu eu de 15 anos, provavelmente ele preferia investigar Neurociência Translacional e tentar compreender, por exemplo, doenças neurológicas. No entanto, ao tentar a Neurociência Básica fiquei muito interessada e compreendi a sua importância e fascinou-me muito mais do que a Neurociência Translacional.
Sempre fui fascinada pelo funcionamento do nosso cérebro e sempre tive interesse em procurar entender como funciona. E foi por isso que escolhi Psicologia. Durante o primeiro ano da Licenciatura, tive a possibilidade de conhecer o Professor Jorge Almeida, o meu orientador, e após assistir a algumas aulas dele, soube que gostaria de tentar esta área e entender como é que o cérebro funciona. Depois disso, enviei-lhe um e-mail e comecei a colaborar com o ProAction Lab.
Para quem quer seguir investigação, acho que é muito importante voluntariar-se e colaborar com laboratórios na área na qual querem investir. Normalmente os laboratórios são bastante abertos a pessoas que querem aprender e que estejam interessadas. Foi isso que fiz e daí surgiu uma colaboração com o ProAction Lab ao longo dos cinco anos do curso, da Licenciatura até ao Mestrado, e que se prolongou até ao Doutoramento. Acho que é importante esta proatividade de colaborar com o objetivo de aprender sobre um tema, técnicas de laboratório e, claro, como funciona a investigação. E este é o conselho que dou aos mais jovens. Quanto aos que estão a pensar seguir um Doutoramento, acho que devem estar muito comprometidos com o tema do projeto e com a própria investigação. Um Doutoramento é um percurso exigente, é um compromisso de, pelo menos, três anos e antes de dar este passo a pessoa tem que ter a certeza de que é mesmo isso que quer fazer, porque caso contrário torna-se uma etapa dolorosa.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Paulo Amaral, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 22.04.2021