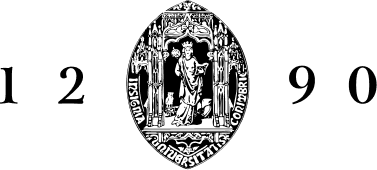Um passo para saber mais sobre o funcionamento do Universo a partir de fenómenos moleculares de alteração de cor
O fascínio pelo funcionamento do Universo surgiu cedo na vida do Bernardo Albuquerque Nogueira, quando tinha cerca de 5 anos. A par desta curiosidade, foi crescendo o interesse pela Biologia e pela Química, uma curiosidade alimentada pelo percurso do avô, que foi Professor de Química na Universidade de Coimbra. Hoje é estudante do Doutoramento em Química, no Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), onde está a realizar o projeto de investigação Desenvolvimento e caracterização de novos materiais com polimorfismo de cor, orientado por Rui Fausto. Conversámos com o estudante sobre os objetivos e aplicações do seu projeto de investigação, mas também sobre os desafios de mergulhar a fundo num tema, sem perder a motivação e sem deixar de pensar no futuro depois do doutoramento.
Quando comecei a desenhar o projeto de investigação de doutoramento falei com o meu orientador, o Professor Rui Fausto, que sugeriu pensarmos num projeto diferente e inovador. Na altura, estive de férias em Paris e decidi levar comigo cerca de 6 dezenas de artigos científicos que tinham sido publicados em revistas científicas de maior impacto para perceber os temas de maior relevância na área. Depois desta pesquisa, acabei por decidir desenvolver um projeto na área do polimorfismo de cor, porque é um fenómeno bastante raro e não muito estudado. O polimorfismo – que é uma palavra que vem do grego e que significa muitas formas – é uma característica que alguns compostos têm quando, no estado sólido, a mesma molécula organiza-se de forma diferente. Isto significa que a mesma molécula tem, na fase sólida, diferentes propriedades. Há dois grandes tipos de polimorfismo: o polimorfismo de empacotamento, em que as moléculas estão organizadas de forma diferente das suas vizinhas, apesar de serem do mesmo tipo; e o polimorfismo conformacional, em que as moléculas, na fase sólida, estão arranjadas de diferentes formas, quase como se como num sólido estivessem sentadas e noutro estivessem em pé. Apesar de estarmos a falar das mesmas moléculas, no fenómeno do polimorfismo, elas podem existir em diferentes formas sólidas, que possuem diferentes propriedades físico-químicas. Uma delas pode ser a cor. Apesar de serem poucos os sistemas que têm polimorfismo com cores diferentes – porque a maior parte são brancos -, há um conjunto reduzido de moléculas que apresenta esta característica.
O objetivo do estudo é sistematizar o conhecimento na área do polimorfismo de cor, estudando os sistemas que anteriormente referi, que têm polimorfismo de cor, em que o mesmo material pode apresentar cores diferentes apenas pela diferente organização espacial das moléculas que o constituem. No final, o que pretendemos é descobrir os mecanismos moleculares que estão associados à alteração da cor quando as moléculas são exatamente as mesmas. De uma forma muito resumida, este é um estudo científico fundamental, que pretende perceber quais são os mecanismos científicos físico-químicos que estão associados à alteração da cor quando uma molécula se organiza de forma diferente no estado sólido.
Nesta fase, o nosso objetivo principal não passa por pensar em possíveis aplicações, mas claro que podemos também teorizar sobre isso. Depois desta fase de investigação, um dos exemplos de aplicação pode ser modelar as moléculas para terem as alterações de cor que nos interessem e a uma temperatura que nos interesse. Isto porque estes polimorfos podem converter-se, dependendo das condições de pressão e de temperatura. Algumas conversões podem ser reversíveis e outras podem ser irreversíveis e isto significa que, alguns casos, alteram-se sistematicamente e já não regressam à forma anterior.
Depois, quando tivermos conhecimento sobre este tipo de sistemas, de tal forma que seja possível modelar os sistemas de acordo com os nossos objetivos, poderemos fazer, por exemplo, tinta que possa ser aplicada em zonas de altitude elevada e com muito frio, em que a tinta seja branca acima dos 4ºC e que abaixo dos 4ºC seja vermelha ou amarela. E isto pode permitir avisar os condutores que a partir de determinada temperatura haverá mais gelo e devem ter mais cuidado na condução. Mas para isto acontecer, para que se possa pensar esta aplicabilidade, precisamos de conhecer os fenómenos moleculares que estão por trás da alteração de cor para conseguirmos, depois, modelar sistemas que permitam ter as cores que nos interessam, a conseguirem-se alterar às temperaturas que nos interessam.
Quando pensámos este projeto, considerámos que faria sentido que tivesse uma abrangência muito vasta entre várias técnicas e subáreas da Química para que, no final do doutoramento, eu tivesse um maior conhecimento de várias áreas e de várias técnicas que permitam que, no futuro, possa ser um melhor profissional e um melhor investigador. E, por isso, acabamos por utilizar um pouco de todas as técnicas.
Começámos por fazer o design computacional destas moléculas. Nós tínhamos um conjunto alargado de potenciais moléculas que apresentavam a característica de polimorfismo de cor e, a partir desse conjunto, fizemos algumas previsões que permitiram escolher um conjunto mais pequeno de moléculas para continuar este estudo. Depois deste processo, estive no laboratório para fazer a síntese destes compostos: a partir das moléculas percursoras sintetizar as moléculas que nos interessavam. Esta parte do trabalho não foi apenas feita por mim, mas considerei que seria relevante ter no projeto esta parte mais clássica da Química, também porque ainda não tinha feito durante a minha formação anterior e achei que seria importante ter também esta componente desta área. Seguiu-se depois outra etapa, durante a qual estive em Itália, para fazer a previsão das características desses compostos. No Politécnico de Milão trabalha-se com uma técnica que em Portugal ainda não é muito utilizada e que nos permite estudar estas moléculas computacionalmente em estado sólido. No nosso país estudamos tipicamente as moléculas em gás, porque é mais simples. Passei um ano em Itália e quando regressei comecei a fazer a caracterização experimental físico-química: a nível espectroscópico, para estudar as vibrações destas moléculas; a parte cristalográfica, em colaboração com o Departamento de Física da FCTUC; e depois a relação termodinâmica, para compreender como é que estes polimorfos se transformam uns nos outros, em que temperaturas, as reações de transformação e estabilidade.
Sempre quis ir para fora. Quando se colocou a possibilidade de desenvolver o projeto para a submeter ao concurso de atribuição de bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia sempre esteve clara esta possibilidade e sempre considerámos, eu e o meu orientador, que seria algo essencial, por vários motivos. Em primeiro lugar, permitiu-me ter acesso a um conjunto de técnicas que cá não teria. Do ponto de vista da maturação pessoal, também é importante. Para além disso, a nível científico também é importante ir para fora para perceber como é que as pessoas pensam, num meio diferente do nosso. Este contacto é essencial, porque a Ciência é cada vez mais não só transdisciplinar, como também transnacional. E isto implica que exista trabalho com pessoas de outros locais do mundo e saberemos trabalhar melhor se melhor compreendermos a forma como os outros pensam, como gerem a Ciência e como é o dia a dia no laboratório.
Acho que há variadíssimos desafios que surgem ao longo de tempo. O mais importante é termos a capacidade de geri-los de forma natural, tendo sempre em mente o objetivo final. Diria que o maior problema foi, provavelmente, a ilusão do tempo. Isto porque são 4 anos de doutoramento e 4 anos é muito tempo na nossa vida, mas é pouco tempo em termos de Ciência.
Por outro lado, num doutoramento nós não temos propriamente prazos intermédios, temos um prazo final. Claro que podemos definir prazos intermédios no nosso projeto, mas formalmente esses prazos não existem. E a certa altura, neste caminho, a pressão começa a apoderar-se de nós. Se nós soubermos lidar bem com ela, a pressão pode ser positiva, mas temos que nos esforçar para isso. Outra questão que também me parece importante é que, quando um projeto de doutoramento não está incluído num grande projeto de investigação pré-existente, acaba por ser um trabalho muito individual. Ainda que sejam trabalhos colaborativos, todas as etapas são da nossa responsabilidade. É um projeto desenhado por nós, realizado por nós, que depende sempre muito de nós e nós seremos os principais beneficiários deste trabalho no final.
Diria que outra dificuldade é capacidade que temos que ter para estarmos motivados para continuar a aprender. Um doutoramento é também uma fase de formação, talvez até mais do que aprendemos na licenciatura ou no mestrado. E, por vezes, não é fácil ter essa disponibilidade para mergulhar novamente num tema completamente novo. Os anos vão passando e estamos cada vez menos propensos a começar algo do zero, mas esta característica é muito importante num doutoramento.
Mais até que a área da Química, a Ciência sempre teve presente na minha vida. Lembro-me que quando tinha cerca de 5 anos os meus irmãos e os meus primos acordavam de manhã para ver desenhos animados e eu só queria saber do programa BBC Vida Selvagem. Nessa altura também era fascinado pela série Era Uma Vez… o Homem, particularmente sobre o surgimento de vida na Terra. Sempre gostei muito da área da Ciência, naquela altura mais ligada à Biologia. A Química apareceu mais tarde, no 7.º ano de escolaridade, com a disciplina de Físico-Química e passou a ser, a par da Biologia, as minhas áreas preferidas.
Tenho na família várias pessoas que estão ligadas à área da Química, nomeadamente o meu avô, que foi professor na Universidade de Coimbra. Quando começou o interesse pela área, foi inevitável o fascínio por ter alguém na família que ensinava Química na Universidade. Quando percebi que a Química era uma excelente forma de explicar e de procurar conhecimento para perceber como é que o mundo funciona comecei a considerar seriamente esta área para o meu futuro profissional.
Por gostar tanto da Química, como da Biologia, tive até muito tarde a dúvida da área que deveria seguir no ensino superior. Em 2010, abriu o curso de Química Medicinal em Coimbra e nessa altura não hesitei e inscrevi-me na licenciatura. No final do curso, acabei por perceber que a área para a qual sentia um maior apelo era a Química e acabei por fazer a licenciatura e o mestrado na área e estou agora no doutoramento.
Sempre quis fazer investigação e responder a questões sobre o funcionamento do Universo para as quais ainda não temos resposta. Por causa das relações familiares que já referi na questão anterior, conhecia bem a área e sabia que queria seguir os vários ciclos de estudo. A área específica não sabia, mas tive a sorte de no primeiro ano ter tido contacto com o professor Rui Fausto, numa unidade curricular de Química Geral. Acabei por lhe perguntar se seria possível fazer um estágio de licenciatura com ele, fiz esse estágio, que correu muito bem. E acabou por ser muito natural a continuidade no mestrado e no doutoramento nesta área, mas concretamente na Química Física e na Espetroscopia.
Como sempre fui fascinado pela área da Química, sempre me deu muito prazer passar isto a outras pessoas, particularmente aos mais novos. A Escola Molecular é o principal projeto da Molecular JE, a júnior empresa do Departamento de Química da FCTUC, que fundei em 2017, em conjunto com outros estudantes do Departamento. Na altura, achámos que a divulgação da Química não estava bem estruturada e quisemos contribuir para tentar resolver esse problema, dentro das nossas possibilidades. A Escola Molecular nasce em 2019 porque achámos que era uma boa forma de divulgar a Química junto do público do ensino secundário, motivando-os para seguir a Química e a Ciência e para terem mais cedo um contacto com a Universidade de Coimbra. Este ano organizámos a 3.ª edição e tem sido um grande sucesso. É uma forma de passarmos aos outros o que gostamos de fazer e dar-lhes ferramentas para que conheçam melhor a Química.
É uma pergunta um pouco difícil, porque cada um tem a sua forma de pensar e dado que se calhar não tenho ainda a experiência necessária para dar grandes conselhos. De qualquer forma, acho que há três ideias que posso partilhar. Em primeiro lugar, é importantíssimo estarmos extremamente motivados e isso significa que é preciso gostar não apenas de fazer investigação, mas também da área em que estamos a trabalhar. Em segundo lugar, temos a gestão do tempo, porque no dia a dia o nosso trabalho é muito longo, não paramos propriamente o trabalho às 6 da tarde, porque as exigências do projeto consomem muito tempo. Em terceiro lugar, temos a questão do reconhecimento, que é algo que nos faz sentir motivados, e nem sempre é fácil obter este retorno em áreas muito específicas, em que há poucas pessoas a trabalhar o tema e a compreender aquilo que nós fazemos. Isto pode ter um impacto negativo e nós precisamos de continuar motivados. Também é muito importante termos currículo, em diversas dimensões, desde a publicação de artigos à participação em projetos.
O que acontece a seguir a um doutoramento é também uma questão complicada, porque sabemos que são carreiras desafiantes, com poucas vagas, com bolsas precárias, com contratos com termo certo e com salários modestos. Com os fatores negativos da Ciência, como a falta de reconhecimento na sociedade ou a dificuldade de progressão na carreira, só mesmo com muito gosto pela área é que somos capazes de continuar. Para quem gosta de investigação, acho que deve seguir esse caminho, porque temos a possibilidade de fazer o que gostamos, investigamos o que queremos, podemos viajar bastante para participar em congressos ou para conhecer outros grupos de investigação ou outras formas de pensar. Não é fácil conseguir um equilíbrio entre todas estas dimensões, mas é fundamental para conseguirmos um futuro depois do doutoramento.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Paulo Amaral, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 28.07.2021