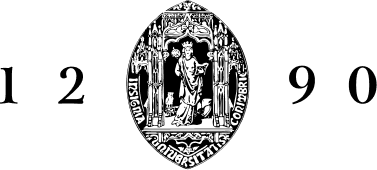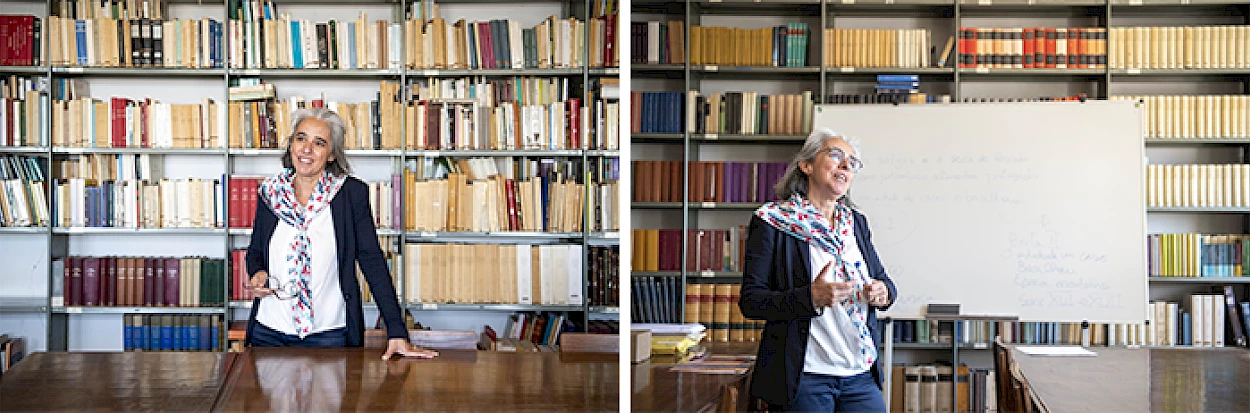Percorrer a História em busca de um gosto secular do património alimentar português
Vinte anos depois de ter finalizado o mestrado, Ana Proserpio veio de Lisboa até à Universidade de Coimbra movida pela curiosidade de participar num evento científico dedicado à alimentação. Depois desta visita, por aqui ficou, para frequentar o doutoramento em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades e desenvolver o projeto de investigação As salgas e a seca de pescado como património alimentar português, da Antiguidade à Época Moderna. O estudo de um caso: o bacalhau, orientado por Carmen Soares e Maria Helena da Cruz Coelho, docentes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Conversámos com a doutoranda sobre o desafio de conciliar a produção de uma tese com um trabalho a tempo inteiro, como também sobre a magia de descobrir os sabores que temos na mesa portuguesa através de uma viagem pela História.
No doutoramento temos um percurso que começa com aulas e seminários durante um ano letivo, surgindo depois desta etapa as reuniões com os professores para escolhermos um tema para a tese. Durante todo o percurso, o bacalhau sempre despertou a minha curiosidade, porque hoje em dia nós, os portugueses, ainda consumimos muito bacalhau. Somos mesmo dos maiores consumidores do mundo. Não sendo um pescado das nossas águas territoriais, que têm tanto peixe fresco, para mim foi sempre uma interrogação o motivo de consumirmos tanto bacalhau. No decorrer dos seminários do doutoramento, comecei a perceber que as salgas do pescado eram muito importantes na Antiguidade Clássica e que, por exemplo, na época romana havia muitas unidades de salga de pescado no território nacional. No seguimento dos temas que fomos abordando ao longo do primeiro ano do doutoramento, a Professora Carmen Soares, que é uma das orientadoras da minha tese, desafiou-me a “viajar” até à Antiguidade Clássica para aprofundar o consumo do pescado salgado e, depois, a Professora Maria Helena da Cruz Coelho no período medieval e na época moderna, e ver a sua relação com o bacalhau. E foi assim que construímos o objeto de estudo da minha tese que é procurar perceber a evolução do consumo de peixe salgado e seco, afunilando depois para o bacalhau.
Comprovar que o consumo de bacalhau por parte dos portugueses no Século XXI está relacionado com um gosto multisecular que vem desde a Antiguidade Clássica. E, portanto, demonstrar que se deve considerar as salgas e as secas de pescado como património alimentar português, um consumo que já vem desde a Antiguidade Clássica.
Destacaria que, através deste projeto de investigação, apercebemo-nos que foi logo a partir do momento em que se começou a fazer a pesca do bacalhau, nos finais do século XV e no século XVI, que os portugueses passaram a consumir muito este pescado. E não mais tardiamente, como é habitualmente considerado.
A minha tese está dividida em duas partes. A primeira parte é dedicada às salgas do pescado desde a Antiguidade Clássica à Idade Média. Nesta parte da tese, que trata mais do estado da arte, foram analisados vários estudos sobre a seca e a salga de pescado, nomeadamente na área da Arqueologia, que permitiu neste caso perceber que, por exemplo, já na Pré-História havia salicultura e salga de pescado, trocando os povos o pescado salgado por carne salgada. Já para a época romana visitei campos arqueológicos, com as unidades de salga de pescado que mostram como naquela época a Península Ibérica era usada para produzir quantidades grandes de pescado salgado que depois iam nos barcos abastecer outros pontos do Império Romano. Houve um desenvolvimento tão grande desta indústria que se considera ter existido na Península de Troia a maior unidade fabril de todo o Império Romano. Ora, foi a partir desta produção intensiva que o pescado salgado se foi impregnando no gosto das populações locais que, para além de o produzirem, também o consumiam. Depois, na pesquisa que fiz para a Idade Média, e dada a importância dos interditos alimentares ditados pela religião, em que se proibia o consumo de carne em determinadas ocasiões, foi possível perceber que sempre que não havia peixe fresco se consumia o pescado seco e salgado. Tudo isto vem atestar que o pescado seco e salgado foi muito importante na dieta dos habitantes do território português, desde a Antiguidade Clássica até à Idade Média.
Depois, na segunda parte da tese, dedico-me a trabalhar o consumo de bacalhau a partir dos finais do século XV. O método de investigação passou a ser outro: fui para os arquivos para tentar perceber quem eram os consumidores do bacalhau. Comecei por pesquisar as comunidades religiosas e para isso fui para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo analisar os livros de receitas e de despesas de vários mosteiros e conventos portugueses. Tive de utilizar o método da amostragem, utilizando critérios temporais (selecionando anos e décadas) e geográficos (litoral/interior; continente/ilhas) e foi assim que me apercebi que a partir dos finais do século XVI – e com mais força nos séculos seguintes – há cada vez um maior consumo de bacalhau, por ser um peixe mais acessível e mais fácil de conservar. Isto levou-me a concluir que as comunidades religiosas foram muito importantes para consolidar o gosto pelo peixe seco e salgado, e depois pelo bacalhau, no atual território português. Há, depois, também um outro grupo social importante nesta minha pesquisa, que são as pessoas embarcadas nos navios. Na verdade, com as grandes viagens marítimas que se passaram a realizar a partir do século XV, houve a necessidade de ter alimentos nos barcos que fossem capazes de se conservar durante essas viagens, que por vezes demoravam meses. Para analisar este cenário, estive também no Arquivo Nacional Torre do Tombo a verificar as listagens de alimentos que eram embarcados. E comecei a perceber que, no caso da carne, aparecia muito o toucinho (que era salgado) e do peixe, o bacalhau (igualmente salgado). Por fim, pesquisei também o povo, como grupo mais desfavorecido. Uma vez que o bacalhau seco e salgado era mais barato do que outros peixes, acabava por ser este um dos alimentos através do qual se conseguia ingerir proteína animal. E acabou também por ficar claro que se não existissem as tradições religiosas a interditar o consumo de carne em determinados dias da semana, sobretudo na Quaresma, talvez esta apetência para o consumo de bacalhau não se tivesse vindo a registar.
Para mim, o desafio maior foi saber como estruturar o projeto e lidar com tanta informação. Quando a informação começa a saltar de todo o lado é preciso saber selecionar e isso nem sempre é fácil de se fazer. Também muito desafiante foi ter um período de análise tão abrangente – desde a Antiguidade até ao século XVII – que levou a que tivesse de fazer muitas leituras e analisar muita informação. É por isso que é muito importante ter uma boa orientação e termos a humildade de a aceitar, perceber que quem está à nossa frente a orientar-nos vai melhorar o nosso trabalho. Este projeto foi bem sucedido muito graças à boa orientação que tive, à minha persistência em não o largar (porque trabalho a tempo inteiro) e ao apoio das pessoas próximas.
Comecei o meu percurso académico na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde frequentei a licenciatura em História. Nessa altura pensava em ser professora de História e acabei por seguir o ramo educacional e dar aulas. Depois comecei a ponderar em dedicar-me à investigação e consegui uma bolsa para seguir caminho no mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, onde trabalhei a presença dos portugueses no Japão. Depois do mestrado, o meu desejo era continuar no caminho da investigação e seguir para um doutoramento em História, mas não consegui bolsa e foi assim que comecei a trabalhar na Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Mas o gosto pela investigação ficou sempre.
Em 2014, recebi um e-mail da mailing list histport – do Professor da Universidade de Coimbra José d’Encarnação, que divulga os eventos de História de todo o país – sobre o 2.º Fórum-Estudante de História e Culturas da Alimentação, que decorreu aqui em Coimbra. Quando recebi esta informação partilhei com o meu marido que gostaria muito de assistir e, assim, decidimos vir de Lisboa a Coimbra para participar na iniciativa, 20 anos depois de ter acabado o mestrado e de me ter desligado do meio académico. Foi durante esta iniciativa que tive o primeiro contacto com o mestrado em Alimentação: Fontes, Cultura e Sociedade, e com docentes do curso, que me desafiaram logo a frequentar o mestrado! Acabei por ficar muito entusiasmada com este estímulo por parte das professoras e foi este impulso que marcou o início do meu percurso na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, novamente num mestrado que, depois, passou a ser um doutoramento, porque já tinha o grau de mestre. Esta mudança aconteceu precisamente no ano em que arrancou o doutoramento em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades, em 2015. O que gostaria de transmitir com este relato é que voltar a estudar é muito bom! Nós não sabemos tudo e há sempre espaço para sabermos mais. E acho muito importante destacar também a grande camaradagem que existe entre professores e estudantes na Universidade de Coimbra. Se não fosse esse ambiente de proximidade com as minhas orientadoras eu não teria chegado até ao doutoramento.
Gostaria de dizer que não devem tomar um doutoramento com ligeireza, porque é um projeto muito sério e que dá muito trabalho. E quando trabalhamos e estudamos ao mesmo tempo, ainda é mais exigente dado que precisamos de todo o tempo livre para nos dedicarmos a ele. É, pois, um grande compromisso! É também muito importante a orientação dos professores, pois o sucesso do projeto depende muito das diretrizes que recebemos.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Paulo Amaral, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 24.06.2021