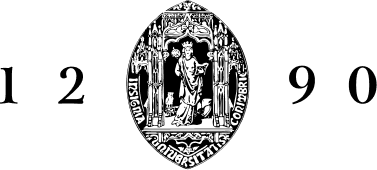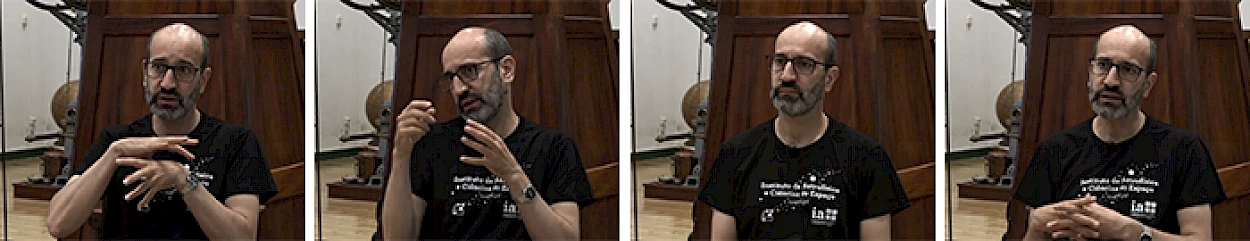Episódio #9 com Nuno Peixinho
A história de resiliência do astrofísico português que vê hoje o seu nome gravado no Espaço
Foi o fascínio pelo Espaço que levou Nuno Peixinho, astrofísico da Universidade de Coimbra (UC) e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, à área da Astrofísica. Horas e horas de observação do Espaço marcam a sua rotina de trabalho em prol da descoberta sobre algo que está tão distante de nós. A evolução tecnológica veio tirar o romantismo à profissão, mas nem o menor manuseamento de telescópios veio tirar a magia ao seu trabalho. O percurso de Nuno Peixinho na UC faz-se entre a divulgação das Ciências do Espaço junto de vários públicos e o estudo dos pequenos corpos celestes, sempre em busca de novas respostas para compreender o que rodeia a Terra. Passámos pelo seu local de trabalho, no Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra, para conhecer mais sobre o seu percurso e acabámos por desvendar uma série de curiosidades sobre o Espaço, que partilhamos com a comunidade UC através desta entrevista.
O meu percurso na Universidade de Coimbra começou no pós-doutoramento. Defendi a minha tese de doutoramento em 2005, na Universidade de Lisboa. O trabalho científico da tese foi feito no Observatório de Paris. Em 2006, cheguei à Universidade de Coimbra, para um ano de pós-doutoramento e nos dois anos seguintes estive no Instituto de Astronomia da Universidade do Havai. Regressei à UC em 2008 para um contrato de 5 anos como investigador. Depois deste período, voltei a emigrar, desta vez para o Chile, onde estive 2 anos. Regressei novamente à Universidade de Coimbra, com uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia. Vim para trabalhar, essencialmente, na divulgação de Ciência do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra, porque estava pronto o Planetário, e a Cúpula Astronómica também já estava recuperada, e era necessário criar um programa regular de visitas para o público e para as escolas. Como já tinha trabalhado no Planetário do Porto e sempre gostei de fazer divulgação, vim para cá e estive 3 anos com a bolsa que referi e a seguir passei a ter um contrato de investigador a termo certo.
Creio que, invariavelmente, para todos os astrofísicos ou astrónomos – como se preferir chamar – a resposta costuma ser que se pensa nesta área desde criança. E, de facto, lembro-me que fui ganhando fascínio pelo Espaço desde a escola primária e quis muito ser astrofísico ou astrónomo, embora na altura não soubesse bem qual a palavra que devia usar. Claro que naquela idade passam-nos pela cabeça muitas coisas, mas esta foi uma que ficou. Consegui manter-me na linha de querer ser astrónomo, embora também tenha pensado em ser outras coisas pelo meio. Tive também a sorte de apanhar o período em que apareceu a licenciatura em Astronomia, na Universidade do Porto (com a reforma do Processo de Bolonha, essa licenciatura deixou de existir) e decidi aproveitar. E assim foi, fiz a licenciatura, o mestrado, o doutoramento e depois vim para a UC trabalhar na área.
No Porto havia a tradição de não se distinguir entre Astronomia e Astrofísica, no sentido em que a Astronomia engloba todas as Astro Ciências. Mas em Lisboa era feita esta distinção. A distinção prende-se mais com esta questão: aquilo que era, no passado, a Astronomia sem ter Astrofísica hoje em dia é uma coisa que já não existe. Mas como a palavra continua a existir há quem prefira continuar a manter a expressão Astronomia, no sentido de que podemos imaginar a mecânica celeste. Por exemplo, ao estudar a posição dos corpos celestes podemos considerar que pode ser uma Astronomia que não é Astrofísica. Mas em tudo o resto, já não há Astronomia moderna sem ter Física. Por isso, é mais comum hoje dizermos Astrofísica. Curiosamente, também há outra vantagem em dizer astrofísico em vez de astrónomo: quando dizemos astrónomo é muito frequente haver o equívoco com astrólogo e pensar em signos; mas se dissermos astrofísico esse equívoco nunca aparece.
É um daqueles fascínios que todos temos e que não sabemos explicar o porquê. É daqueles fascínios que aparece, normalmente, desde pequeno. Também é verdade que eu acho que é quase impossível alguém olhar para o céu e não ficar fascinado. O céu fascina, como fascina a ideia do infinito, das escalas, das distâncias... Tudo aquilo que faz parte do Universo, e que é difícil o nosso cérebro alcançar, é fascinante e é difícil uma pessoa querer parar de perceber mais. E não nos conseguimos conter!
Sendo um astrofísico observacional, por comparação, por exemplo, com os teóricos que não usam telescópios, uso telescópios. Para fazer esta utilização, nós concorremos – tipicamente através de concursos para recorrer à observação em telescópios por esse mundo fora – para o que queremos observar e esperamos pelo resultado destes concursos, que abrem normalmente de 6 em 6 meses. Por exemplo, se quiser 3 noites no telescópio de 8 metros do VLT (Very Large Telescope) para observar uns objetos trans-neptunianos para estudar algo, este pedido será avaliado por um júri de um concurso e só depois saberemos se teremos acesso ou não. A taxa de aprovação é baixa, a taxa de aprovação ronda os 10% e, portanto, nós temos que concorrer muitas vezes a vários telescópios para conseguirmos ter tempo de observação. Claro que como concorremos em equipas e integramos vários projetos acabamos por não ficar sem dados observacionais. Se um astrónomo observacional não tiver dados de observação, terá de se dedicar à teoria.
A imagem tradicional do astrónomo, que usa um telescópio e que fica a noite toda a olhar pela ocular do telescópio e a fazer desenhos à mão, já acabou há muito tempo. Hoje em dia não olhamos pela ocular do telescópio, porque está lá uma câmara digital. E nós estamos numa salinha ao lado – com um aquecedor ao lado, porque os telescópios costumam estar em sítios muito frios durante a noite – a olhar para o ecrã, para observar as imagens que estão a ser captadas. E vamos dando instruções ao telescópio para apontar para os diferentes pontos que queremos observar. Depois passamos o resto do ano, a maior parte do tempo, a processar as imagens, porque temos que corrigir os defeitos, temos que calibrar, temos que medir o que queremos. Passamos a maior parte do tempo a trabalhar nas imagens com o computador, também para fazer cálculos e tentar descobrir aquilo que nós andamos à procura. É menos romântico do que se possa pensar, mas ainda vamos a telescópios. No caso dos telescópios maiores, tipicamente de 8 metros, nós nem mexemos nos telescópios, porque há um técnico. Nós estamos lá para dizer o que queremos que se faça, mas quem aponta o telescópio é o técnico. Está tudo muito otimizado. No caso de telescópios mais pequenos, de 1 metro ou 2 metros, esses não têm um operador e aí nós já fazemos tudo. E é muito mais giro! Nós operamos o telescópio e, em alguns casos, a meio da noite temos que parar o processo para colocar azoto líquido dentro da câmara, porque a câmara tem que estar muito fria – que é sempre um momento giro, porque ao metermos azoto líquido sai vapor por todo o lado – e depois voltamos a recomeçar as imagens. Nos telescópios maiores está tudo muito otimizado, porque é caríssimo o tempo de utilização e esta otimização serve para não perdermos tempo nestas coisas. E, portanto, há uma equipa que faz esse trabalho de manuseamento do telescópio. Algo que se esquece com frequência é que ganhar tempo de utilização de telescópio equivale a muito dinheiro que não recebemos. O que nós recebemos é o acesso à utilização do telescópio sem pagar. Facilmente uma noite num telescópio pode ascender a um valor equivalente a 40 000 euros, por exemplo. E ao ganharmos horas de utilização de um telescópio não recebemos esse dinheiro, mas temos o equivalente em termos de utilização, porque se tivéssemos que pagar teria um custo elevado. É assim que tudo funciona.
Temos agora um desafio que passa por atingirmos aquele limiar em que já conseguimos observar muitos objetos trans-neptunianos, que são aqueles que estão a seguir a Neptuno e que são os que normalmente mais estudo, onde está Plutão, que são os culpados por Plutão ter sido reclassificado para planeta anão. Já medimos muitos objetos e as suas propriedades e atingimos aquele ponto em que as grandes questões que temos sobre esses objetos implicam estudar muitos mais para conseguirmos ver mais detalhes. E isso leva muito tempo! Por sorte, vai ser lançado em outubro o James Webb Space Telescope, que vai ter um espelho de 6 metros e meio, e que vai ser o substituto do Hubble Space Telescope, que tem um espelho de 2 metros e está no espaço. E com ele vamos conseguir ver com muito detalhe os maiores objetos trans-neptunianos, por exemplo. Neste momento faço parte de um projeto que já ganhou 100 horas de observação no novo telescópio. Ele ainda não foi lançado e já foi lançado o concurso para termos acesso ao telescópio, porque assim que começar a funcionar começa logo a trabalhar para os projetos que ganharam as horas. E esta nova ferramenta vai mudar radicalmente, por exemplo, a minha área, porque vamos aumentar mais o conhecimento dos objetos. Brevemente, também teremos a entrar em funcionamento, em 2024 ou 2025, o Extremely Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, do qual Portugal faz parte, que tem espelhos de quase 40 metros. O que costumo dizer é que com um telescópio destes nós vamos conseguir ver um pirilampo na Lua já morto. A capacidade de captação da luz deste telescópio vai ser imensa e vamos conseguir ver todo um novo mundo de objetos! E isso vai ajudar as várias áreas da Astronomia Observacional, seja de galáxias, seja de estrelas, seja dos exoplanetas… Tudo o que estiver ligado à Astronomia Observacional vai mudar radicalmente com esta nova geração de telescópios que vai entrar em breve em funcionamento e vamos ter um grande salto na investigação.
Comecei a fazer divulgação de Ciência porque gostava. Durante a licenciatura na Universidade do Porto, havia um planetário insuflável que começou a ir às escolas e os alunos no final da licenciatura também eram monitores desse núcleo de divulgação que levava o planetário às escolas. Comecei por aí e com a prática comecei a perceber o que funciona e o que não funciona e como nunca me desliguei de dar palestras nas escolas e para o público em geral sempre me mantive a fazer divulgação de Ciência com regularidade. Quando regressei à Universidade de Coimbra, depois do pós-doutoramento, estive durante três anos, quase em exclusivo, a montar aqui uma estrutura de divulgação de Ciência, mais precisamente na Astronomia, aqui no Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra. Neste processo fazem-se experiências: experimentamos e vemos o que é que se faz nos outros lados. É difícil inventar algo novo, porque já foi inventado quase tudo… E cada vez que temos uma ideia nova verificamos que já foi feito. Mas vamos sempre melhorando coisas, adaptando outras e é algo que entusiasma muito. Contactar com o público é excelente, muito particularmente na área das Ciências do Espaço, porque fascina tipicamente qualquer um e toda a gente está sempre muito interessada. E acaba por se encontrar sempre uma linguagem e uma forma de explicar que faz com que não seja preciso ter formação universitária para perceber o essencial da Astronomia e da Astrofísica, porque o essencial consegue-se sempre explicar sem usar uma única fórmula. Tem que ser algo bastante intuitivo e descritivo e isso consegue-se fazer com prática. Hoje em dia há cada vez mais gente a fazer investigação especificamente nas formas de comunicar Ciência e ferramentas novas vão surgindo e isso também é publicado em revistas científicas. Nós tomamos conhecimento e vamos sempre adaptando aquilo que se faz à nossa experiência, procurando sempre melhorar o que fazemos.
Recebi com muito entusiasmo! E é uma sensação estranha pensar que agora há aí um “calhau” no Espaço, com 10 quilómetros, que tem o meu nome. O meu nome que não vai dizer nada a mais ninguém, da mesma maneira que quando estou a observar os asteroides que têm nomes, olho para os nomes e também não sei quem são as pessoas que lhes deram nome. Mas se procurarmos na base de dados o nome do asteroide aparecem duas linhas a explicar quem é a pessoa, quando nasceu e onde trabalha. E, portanto, fica agora nas bases de dados o asteroide Peixinho, que trabalha na Universidade de Coimbra. Mesmo que eu mude de Universidade, essa frase não vai mudar. Ficará para sempre. E é muito engraçado, porque agora há uma coisa que ficará com o meu nome para sempre. Três ou quatro semanas antes de receber a notícia, inauguraram uma rua com o nome do meu avô, que tem 102 anos. Agora faço-lhe pirraça, porque é mais fácil mudar o nome da rua do que mudar ao asteroide. Volta e meia mudam-se nomes de ruas, quando os nomes que tinham já não dizem nada a ninguém… Não é que não possa haver uma política para dar novos nomes aos asteroides, mas como há tantos e se descobrem tantos, ninguém vai pensar numa política nova para mudar o nome aos asteroides. E ficar com um asteroide com o meu nome é simplesmente fantástico.
A descoberta aconteceu na fase final do meu doutoramento, quando se andava numa grande discussão, entre várias equipas, sobre aquilo que era denominado como as cores dos objetos trans-neptunianos e dos centauros (os centauros são, na verdade, os objetos trans-neptunianos, que estão a seguir a Neptuno, que vêm orbitar para zonas mais próximas do Sol, entre Júpiter e Neptuno, e por isso têm outro nome). Nas observações que fazemos com os telescópios, utilizamos a palavra cor para caracterizar a superfície destes objetos. Esse grande debate passava por descobrir se eles se separavam todos em dois tipos de superfície – umas eram chamadas de cores azuis e as outras de cores vermelhas – ou se existiam as cores todas, desde o azul até ao vermelho. Uns diziam que eram dois grupos de cores e outros admitiam que era um contínuo de cores. E no meu trabalho, com os dados que tinha na altura, percebi que apenas os centauros é que tinham dois grupos de cores e os que estão nas órbitas para além de Neptuno tinham as cores todas, desde o azul até ao vermelho, passando pelas cores intermédias. Ainda hoje não conseguimos perceber porque é que isto acontece e há vários modelos que procuram explicar porque é que há aquele buraquinho nas cores se eles estiverem um pouco mais perto do Sol, mas ainda não sabemos. Esta foi a descoberta que mais gostei de fazer. E foi um trabalho feito em tempo recorde: a descoberta foi feita e em 15 dias escrevemos o artigo, foi um recorde porque nunca mais consegui trabalhar tão depressa. Foi um trabalho que teve bastante impacto nessa discussão das cores, que agora já renasceu outra vez, com outros detalhes. Foi, de facto, o trabalho que mais gostei!
Era perceber porque é que, de facto, as cores que referi anteriormente mudam, porque é que eles não têm todos, digamos, as mesmas classes de cores e o que é que se passa lá para uns terem cores diferentes dos outros. Evidentemente que isso tem que estar associado à evolução físico-química das suas superfícies ao longo dos milhões de anos de existência, mas o processo não compreendemos ainda. Gostava muito, muito de perceber as linhas gerais do processo! Gostava muito de conseguir chegar lá. Há sempre algumas ideias, claro, mas essas ideias têm falhas e não conseguem explicar tudo. E, por isso, continuamos neste caminho de descoberta. Se conseguisse ter um modelo que explicasse porque existe a tal diferença nas cores já me podia reformar contente.
Para mim, ter conseguido um contrato de trabalho teve um significado especial. Na altura, foi um processo muito difícil para todos os bolseiros de investigação. Tivemos que lutar muito para conseguir que deixássemos de ser pagos com as chamadas bolsas de investigação, que são um subsídio de manutenção mensal (a expressão técnica é essa), em que não descontamos para a reforma como um trabalhador normal, não temos direito a qualquer subsídio de paternidade ou de desemprego ou outro. Passámos a ter um contrato de trabalho, que é aquilo que as bolsas deveriam ser, fazemos descontos e temos os deveres e as regalias de um trabalhador dito normal. Isso marcou-me muito. Marcou-me muito porque foi um período muito intenso, foi um processo que se arrastou durante dois anos até conseguirmos ver efetivado o nosso trabalho num contrato. Foi pena não ter sido para todos, porque o que queríamos era que todas as bolsas passassem a ser contratos de trabalho, independentemente da sua duração.
Há algo que gosto sempre de referir: há uma questão ainda muito em aberto sobre a origem da água na Terra. Existe a teoria de que toda a água que a Terra tem vem, essencialmente, da queda de asteroides e meteoritos rochosos, que caíram muito no passado. E nós esquecemos que 10% ou 20% de uma rocha são moléculas de água, há moléculas de água no meio. Se pensarmos no cimento para fazer uma parede, junta-se o pó, junta-se a areia e junta-se a água. Depois a massa seca, mas fica muita água nas moléculas. E a queda de muitos asteroides e meteoritos pode ter sido suficiente para criar toda a água que temos na Terra. Existem também outras teorias que dizem que na verdade muita dessa água veio pela queda de cometas, já que são essencialmente gelo. Continua em aberto qual é a proporção de cada uma destas componentes – a queda de cometas e a queda de asteroides – na criação da água que temos na Terra. Isso é uma questão que continua aberta.
Existe ainda a questão adicional de perceber qual foi o papel que teve a queda dos cometas – que são muito ricos em carbono – no surgimento de vida na Terra e se serviu para acelerar o surgimento de vida na Terra ou se não teve impacto nenhum. Existem, claro, os mais radicais que defendem que toda a vida na Terra veio do Espaço (é uma teoria em desuso, mais ainda há quem a defenda).
Há ainda outra curiosidade. Aqui na Terra, em órbita à volta do Sol, nós pensamos na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter, que estão muito longe e não nos fazem mal, mas na verdade há muitos e muitos asteroides que passam perto da Terra. Hoje em dia, é cada vez mais uma preocupação saber onde é que eles estão, para conseguir prevenir atempadamente uma possível colisão com um asteroide. Costuma-se dizer que foi a queda de um asteroide, que tinha pelo menos 10 quilómetros de tamanho, que levou à extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos. Ele não matou os dinossauros de susto – provavelmente alguns terão morrido nesse susto – mas a explosão, toda a poeira, a reativação de vulcanismo e os tsunamis alteraram de tal maneira o clima na Terra que levou à extinção de mais de 90% das espécies que existiam. E agora estamos com possibilidade de levar espécies à extinção devido ao aquecimento global, que no passado aconteceu, mas por razões naturais. Nós tentamos identificar todos os corpos que passam perto da Terra para procurar saber se daqui a 20 ou 30 anos poderão colidir com a Terra. 10% deles são, na verdade, cometas mortos, que por dentro têm gelo e por fora gravilha compactada. Ao olharmos para eles são iguais a um asteroide rochoso, porque só vemos a rocha. E, portanto, 10% do que parecem ser asteroides são, na verdade, cometas mortos. Acho que é sempre interessante saber que, de facto, passa muita coisa perto da Terra. Nós temos sorte, porque é difícil que acertem na Terra. Mas temos sempre que nos prevenir, já que temos tecnologia para isso, para sossegar a comunidade. Está-se a investir muito para prevenir e para se agir atempadamente caso exista algum momento catastrófico.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado em 12.08.2021