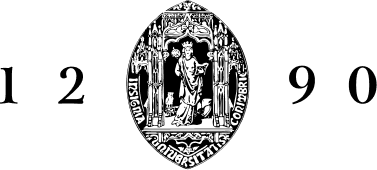Episódio #7 com Jorge Almeida
O sonho e o trabalho árduo na conquista da excelência na investigação em Neurociência
Jorge Almeida é docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) e diretor do ProAction Lab - Laboratório de Perceção e Reconhecimento de Objetos e Ações. Chegou à Universidade de Coimbra (UC) no final de 2012, depois de ter passado pela Universidade de Harvard e por várias universidades portuguesas. Com o sonho de conquistar uma prestigiada bolsa do European Research Council, chegou à UC para cumprir este objetivo. E, em 2018, assim o fez, quando pela primeira vez um projeto português da área da Psicologia conquistou este apoio, com o projeto ContentMAP, que procura estudar a forma como a informação é mapeada no cérebro humano e a forma como esta organização permite a identificação rápida e eficaz de qualquer género de objeto ou ferramenta de uso quotidiano. Estivemos nas instalações do ProAction Lab para descobrir como traçou o seu caminho, feito num equilíbrio constante entre a docência, a investigação, a gestão do laboratório e o importante tempo para a família.
Vim para a Universidade de Coimbra no dia 31 de dezembro de 2012, quando comecei o meu contrato de professor auxiliar, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Candidatei-me um concurso internacional para professor auxiliar e fui escolhido. No início de 2011, regressei dos Estados Unidos da América, da Universidade de Harvard, através do programa Welcome to Portugal - Marie Curie COFUND, como investigador na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e, ao mesmo tempo, era professor convidado na Universidade do Minho, onde dava aulas e também fazia investigação. Andava para trás e para a frente… e como andava neste caminho constante, acabei por ficar no meio deste percurso, aqui em Coimbra. E foi uma aposta certamente ganha!
Sempre quis ser cientista. Desde muito pequeno, sempre tive interesse pelas várias ciências, mesmo sem saber muito bem o que é que isso significava. A Psicologia foi, talvez, uma escolha um pouco por causa de um amigo, que estava na área e que estudava algo muito semelhante ao que faço neste momento, a ciência cognitiva, e isso entusiasmou-me. E por isso escolhi a área da Psicologia, mas sempre na ótica de fazer ciência. Era isso que me movia quando era mais pequeno.
Não diria que sei exatamente o momento em que isso aconteceu. Mas tenho na família pessoas que estavam ligadas à parte da investigação, à parte académica, e isso ajudou. A minha mãe era professora de Matemática e isso é capaz de também ter ajudado. Quando somos pequenos, e pensámos em ser cientistas, há dois campos: o campo médico - que também não digo que não me fascinasse na altura, porque acho que quem sempre pensou ser cientista sempre quis descobrir a cura para qualquer coisa; e o campo espacial, como as estrelas ou a observação do céu, que é uma das minhas paixões e hobbies… Não diria que houve um aha! moment, mas quando olho para trás identifico alguns momentos em que pensei que queria mesmo fazer ciência.
Importa também acrescentar a esses dois aspetos o âmbito mais procedimental de conduzir um laboratório, que consome talvez entre 50% a 60% do meu tempo. Temos a gestão de pessoas – no ProAction Lab, temos mais de 20 pessoas atualmente – e essa é uma das partes do meu trabalho diário que ocupa mais tempo. Depois há outra parte importante, que nunca esqueço, que é a família. E, por isso, o meu dia de trabalho termina às 17h e aos fins de semana não trabalho… E esta dimensão é também importante e consome, felizmente, uma boa parte do meu tempo.
Quanto às duas partes que refere, para mim não pode haver docência sem existir investigação. Quando estamos numa casa de criação de conhecimento, como a UC, faz pouco sentido que um docente não seja investigador. Isto não significa que devemos olhar só para a investigação e esquecer a qualidade da docência… Não é isso que estou a dizer. Mas parece-me muito claro que um docente tem que ser também um investigador para poder passar informação e formas de chegar ao conhecimento aos seus alunos. É verdade que existe uma dificuldade temporal, porque o tempo não estica, mas é importante conciliar a docência e a investigação. E o investigador tem que ser também um docente, tem de ser capaz de passar o seu conhecimento, aquilo que descobre, as novidades, aquilo que consegue trazer para o campo científico para as novas gerações. Essa conciliação não é fácil… E devo dizer que depois de ter conquistado o financiamento do European Research Council se tornou ainda mais difícil. Antes disso, já não era fácil, porque tínhamos no ProAction Lab vários projetos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia… Mas nunca quis deixar de dar aulas. Essa parte da ligação com os alunos é uma parte que eu gosto! Se calhar gostava de dar mais aulas, mas também gostava de investigar muito mais. Mas só há 24 horas por dia e neste espaço temporal precisa de existir um equilíbrio entre a família e o trabalho, que é extremamente importante e que nós não podemos esquecer. Mas é possível! E prova disso sou eu.
Há desafios gerais por que passam todas as áreas de investigação, como arranjar estratégias de pensamento, de saber fazer com que os alunos pensem. É essencialmente isso que nós fazemos: ensiná-los a pensar. No meu caso, sou docente em unidades curriculares gerais, do tronco comum, que têm mais de 200 alunos e torna-se difícil arranjar formas de interagir. Uma das grandes diferenças que vejo, por exemplo, entre alunos portugueses e alunos americanos é a interação: o aluno americano é muito interativo, por vezes em demasia, e no caso do aluno português é preciso puxar muito por ele. E esse é um desafio geral: como é que modificamos esta mentalidade portuguesa de não considerar necessário intervir. Acho que essa parte é muito importante, porque se uma pessoa for capaz de intervir, a aprendizagem passa a ser também muito mais ativa.
Depois há desafios específicos para cada uma das áreas. No meu caso, na área da Psicologia, há um grande desafio! E é o desafio de mudar a mentalidade sobre o que é a Psicologia. Tenho a certeza que se perguntar o que é a Psicologia, a maior parte das pessoas vai referir que Psicologia é Psicologia Clínica, que é ajudar os outros… E a Psicologia não é nada disso, a Psicologia não é ajudar os outros. A Psicologia, como o nome indica, é o estudo da psique, da mente. E, portanto, o que nós fazemos, em Psicologia, é compreender a mente normal. A Psicologia não é saúde mental, a psicologia clínica ou a saúde mental são uma aplicação da ciência psicológica – e claro uma aplicação muito importante. E essa parte é complicada, porque os alunos entram com essa perspetiva, a sociedade tem essa perspetiva, os nossos colegas têm essa perspetiva… E um dos desafios é esse, é mostrar que a Psicologia é o estudo da mente sã, através da neurociência, das ciências comportamentais, dos estudos grupais. Basta ver os curricula dos grandes departamentos de Psicologia que estão à frente de qualquer ranking para ficar muito claro que a Psicologia é o estudo da mente e são poucos os docentes desses departamentos que são da área clínica. No contexto nacional acontece o inverso e apenas uma pequena parte não são de áreas aplicadas ou não são clínicos. E isso mostra que há um desequilíbrio na docência.
Essa é uma excelente pergunta porque acho que há dificuldade de compreensão, na sociedade e também no início de uma carreira na academia, sobre o que é liderar uma equipa. Quando estava fora deste âmbito também não tinha essa noção. Neste momento, um dos meus dilemas diários é saber como é que vou arranjar financiamento para as pessoas que estão no Laboratório. Uma boa parte do meu dia é dedicada a pensar nas pessoas que tenho aqui, que têm bolsas ou contratos que vão terminar, e na forma como posso conseguir financiá-las no futuro para que façam investigação. Penso também na forma de arranjar acesso a infraestruturas essenciais, como a ressonância magnética funcional, que nós utilizamos muito; como é que arranjamos espaço para as pessoas; como é que pensamos o futuro da carreira das pessoas. Esta parte, que não é muito clara para quem não está nestas posições, acaba por surpreender quem aqui chega, porque há muita coisa que não estávamos à espera e que é muito complexa e que ocupa muito tempo. Depois, estamos numa sociedade ultra burocrática e que precisa de tornar estes processos mais simples. Uma grande cientista portuguesa, a Elvira Fortunato, já disse várias vezes que é preciso um Simplex para a Ciência. E não há dúvida que precisamos de um Simplex para a Ciência e que devia começar em cada uma das casas/universidades. A Reitoria fez alguns avanços nesse aspeto, em reduzir a quantidade de papéis, por várias razões, inclusive ecológicas, mas mesmo assim a burocracia é enorme e isso dificulta muito, muito a gestão de um laboratório, de uma faculdade, de um centro de investigação e, obviamente, da própria universidade.
A parte da gestão é extremamente complicada, mas também é engraçada, porque é interessante ver depois o retorno do investimento neste trabalho. No ProAction Lab temos uma equipa muito boa e essa é outra das partes interessantes da gestão. Temos mais de 20 pessoas, a maior parte delas são de fora de Portugal. A maioria são pessoas que não conhecia antes e essa é também uma parte muito boa, a questão da mobilidade na carreira. E isto vem um pouco também da experiência do que eu fiz no meu percurso. Eu realmente fiz mobilidade! Nasci em Lisboa, licenciei-me lá, depois fui para os Estados Unidos da América onde fiz o mestrado e o doutoramento, volto para Portugal, estou em Lisboa, vou para o Minho, venho para Coimbra… Corri várias universidades e essa parte foi muito positiva, porque dá independência. E em Portugal, por vezes, não temos essa noção: temos que sair para termos independência.
Disse aí uma palavra que é muito importante, que é a questão do sonho. Isto não está escrito, mas podem perguntar à pessoa que na altura reuniu comigo antes de vir para a UC – a professora Luísa Morgado, que na altura era a diretora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – que em 2012 lhe disse que dentro de cinco anos iria conseguir uma ERC. Era o meu objetivo, era o que queria fazer e precisava de um conjunto de apoios e ela anuiu e ajudou-me bastante. E o sonho, o objetivo é o mais importante! Não vou dizer que é fácil, não posso dizer que a ERC tenha sido fácil… Foi um processo extremamente complexo. Na verdade – e não tenho qualquer problema em dizer isto – foi à terceira tentativa que consegui o apoio do European Research Council. Candidatei-me pela primeira vez assim que pude, portanto, dois anos depois do doutoramento. Assim que tive essa possibilidade, candidatei-me logo para saber onde é que estava em relação aos meus competidores… E não estava muito mal! É um processo de escrita que precisa de muito apoio e, na altura, não tive todo o apoio necessário. Foi muito difícil… Escrever um projeto que é dos mais complexos que há (ao qual me dediquei durante dois meses, das 8h até às 23h) enquanto se dá aulas, enquanto se tem projetos (porque na altura tinha projetos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e enquanto se faz a gestão de um laboratório não é fácil. Requer dedicação, requer vontade, requer sonho. Felizmente, vejo, neste momento, a Reitoria a implementar apoios orientados para ajudar as pessoas a chegar a esse sucesso, através de projetos como o ERC@UC ou o MarieCurie@UC. E isso é jogar o jogo. Porquê? Porque nos países que conquistam mais apoio ERC, como a Holanda, há um apoio institucional enorme! E o lado mais positivo das ERCs é que uma aposta destas dá financeiramente um grande impulso à universidade. Basta uma para depois criar um efeito bola de neve. E nós temos aqui um exemplo perfeito disso, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que tem feito um trabalho inacreditável, que tem um grupo fabuloso. Vejo na nossa Reitoria já a implementação deste trabalho de apoio institucional e ainda bem! Aliás, acho que houve já uma mudança enorme no número de candidaturas.
Portanto, o processo de candidatura a uma bolsa ERC passa muito por este apoio e passa também por ter uma ideia e ser capaz de seguir essa ideia até ao fim. E é preciso querer! Porque se não quisermos não vale a pena, são horas e horas de escrita, de frustração, de reescrita. É um processo que tem a junção do sonho, da vontade e do apoio institucional.
Acho que é porque estamos a tratar uma área de fronteira, onde nós estamos a trabalhar um tema sobre o qual temos pouco conhecimento e, por isso, cada descoberta que fazemos é mais um passo para, de repente, abrirmos mais uma “porta” e saírem de lá mais 150 questões difíceis de responder. Acho que a área da Neurociência tem este sentimento de estarmos na fronteira do desconhecido. Muitas vezes estamos a dar um passo, sem saber para onde, mas estamos a dar um passo para algo novo! Desde a década de 90, as pessoas começaram a perceber que temos aqui uma fronteira, onde temos sempre muitas perguntas para fazer. É uma área que, como o Espaço, tem um wow factor que eu acho que transforma a Neurociência em algo muito interessante. E certamente que é isso que me puxa, sem dúvida.
É o cérebro que estuda o cérebro, é ele que nos vai dizer o que é que ele faz. E essa parte é interessante. Digo muitas vezes isto aos alunos, para eles pensarem: nós estamos a falar e se pararmos para pensar como é que fazemos isto… Como é que isto é possível? Tenho uma mensagem que quero passar e, para isso, o meu cérebro tem que aceder ao léxico para selecionar palavras ou entradas lexicais para que depois eu possa reproduzir numa ordem certa. E como é que o nosso cérebro faz isto? Nós estamos aqui, no dia a dia, com coisas mais mundanas, a viver, a falar, a reconhecer objetos, a tomar decisões, a ter interesses, a ter emoções e às vezes não paramos para pensar na forma como fazemos tudo isto. E a verdade é que nós, como cidadãos comuns, não fazemos a mínima ideia de como isto funciona. E é isso que estudamos no ProAction Lab e para o qual contribuímos continuamente! O que parece ser muito simples, como reconhecer uma caneta, é extremamente complexo. Nós fazemos tudo de uma forma instantânea e, felizmente, automática, mas a verdade é que, em termos do que estamos a pedir ao sistema, é absolutamente complexo. Nós somos muito bons a fazer tudo isto que referi, só não somos bons se tivermos uma lesão. E, por isso, nós estudamos muito lesões cerebrais, no âmbito da Psicologia real, para compreender um sistema normal olhando para uma pessoa que tem uma lesão. No meu caso específico, não olho para o paciente para o tentar reabilitar (apesar de considerar este aspeto como importantíssimo), mas para procurar perceber o que é que acontece a um sistema normal quando há uma lesão. E é quando vemos uma lesão real que percebemos que não é assim tão simples o funcionamento cerebral, porque as pessoas deixam de conseguir fazer determinadas ações.
Nós estudamos muitos casos - há pouco tempo estudámos um caso fabuloso e inacreditável de um paciente que supostamente via metade da cara, o lado direito, todo derretido, algo similar à pintura A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. E isso obriga-nos a pensar sobre o processo de reconhecimento de faces. Todas as faces têm dois olhos, um nariz e uma boca mais ou menos no mesmo sítio…Como é que nós conseguimos reconhecer ligeiras diferenças que nos permitem reconhecer pessoas? Ligeiras diferenças como a posição dos olhos, o tamanho da boca ou a cor da pele. E o estudo com pacientes leva-nos a perceber como é que este reconhecimento é feito. Apesar de ser a fronteira do desconhecido, nós sabemos que o cérebro tem uma estrutura. E o que nós tentamos fazer é provocar esta estrutura para que ela possa reagir para conseguimos ter uma janela para entender como funciona o cérebro. Estamos perante um sistema extremamente complexo, que faz coisas extremamente complexas, mas nós temos a consciência de que tudo isto é algo muito simples, mas não é.
Vai ser difícil destacar só uma, por isso acho que vou destacar várias. Um dos meus artigos do doutoramento, publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, foi o estudo comportamental – no qual as pessoas faziam um conjunto de tarefas – sobre consciência, sobre processos inconscientes. O que fiz foi mostrar às pessoas, de uma forma muito rápida, imagens que elas conscientemente não viam e consegui perceber e mostrar que havia efeitos reais no tempo de reação das pessoas, depois, numa tarefa subsequente, com reações mais rápidas ou mais lentas – ou seja provoquei um efeito subliminar na performance dos participantes. E foi um trabalho muito interessante.
Outra descoberta interessante foi o estudo com surdos congénitos, que são pessoas que nunca ouviram, que foi feito em colaboração com colegas chineses, de Pequim, e da Universidade do Minho. Há uma parte do nosso cérebro – o córtex auditivo – que tipicamente processa estímulos auditivos, mas que no caso deles não pode processar estímulos auditivos porque não existem. Perante isto, o que é que acontece àquela área nestas pessoas? E o que nós conseguimos mostrar é que essas áreas do cérebro, em surdos congénitos, processam aspetos visuais e que a localização da imagem no campo visual está codificada no córtex auditivo, o que é extremamente interessante, porque isso é uma propriedade típica do córtex visual, não do córtex auditivo. Mas como nestes casos o córtex auditivo não tem estimulação, este vai ser cooptado pela visão. E não só, porque também há outros estudos, que não da UC, que mostram também respostas táteis no córtex auditivo. Há também estudos com invisuais congénitos, que nunca tiveram experiência visual, e a sua parte visual é também cooptada por outros sentidos e outras formas de processamento. Esta foi também uma descoberta muito interessante!
Esta panóplia de estudos com pacientes é muito interessante a nível teórico por uma razão muito simples: porque são estudos causais. Eu sei que aquela área está lesionada e se a pessoa tem um deficit, aquela área está obrigatoriamente envolvida no procedimento que eu estou a estudar. E dão-nos dados que uma ressonância magnética não dá. Olhamos para estes pacientes e vemos coisas que são estranhíssimas, para quem não está habituado. Temos feito, por exemplo, estudos com pessoas que não conseguem manipular objetos, que são apráxicos, e isso tem importância para compreendermos como é que diferentes tipos de informação estão organizados no cérebro.
Temos também o estudo do paciente que via parte da face derretida, que já referi anteriormente, que nos mostra algo muito importante: no processo de reconhecer faces, uma parte desse processamento depende de uma representação mental da face 3D, independente da forma como nós a vemos. Perante estas diferentes perspetivas da cara, uma das hipóteses seria que nós armazenamos todas as perspetivas possíveis da cara, algo complexo, mas possível. A outra hipótese é que nós, através de uma perspetiva, somos capazes de alinhar a cara a um template e ter uma visão 3D, independentemente da perspetiva. E o que nós mostramos com o paciente é que no processamento de faces é obrigatória a existência de um momento em que nós temos uma face 3D e em que “pegamos” na face que estamos a ver e comparamos com a face que temos em memória para reconhecer as pessoas. Este paciente, para além de ser um paciente ultra raro e que tem uma vida complexa, obrigou-nos a pensar muito sobre o processamento de faces. Nós temos que agradecer muito a estes pacientes, porque são eles que nos permitem ter estas conclusões.
Para deixar mais um exemplo, no ProAction Lab temos feito muito trabalho sobre o reconhecimento de objetos. E uma das questões mais interessantes diz respeito à dependência entre as diferentes áreas do cérebro, que processam, em simultâneo, coisas semelhantes. Temos redes neuronais que processam objetos manipuláveis, que nós agarramos, e temos vindo a mostrar que as áreas interagem umas com as outras nestes processos e modificam o que é processado localmente.
Quando recebi a bolsa do European Research Council foi um momento extremamente emotivo, foi algo que esperava há algum tempo e foi uma sensação fabulosa! Para além dessa parte pessoal, quando essa notícia chega ao mundo UC e às pessoas que conheço na Universidade de Coimbra, foi muito interessante ver a reação e perceber que as pessoas não apenas sabiam como isso era importante, como estavam contentes por mim, por nós UC e por nós Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Esta parte foi muito interessante.
Ainda a nível pessoal, há cerca de um ano, no meio da pandemia, consegui fazer a minha agregação na Sala dos Capelos e foi também um momento muito interessante. Não só pelo momento pessoal, mas por perceber que pessoas à volta, também de outras áreas, estiveram presentes. E é assim que percebemos que há uma comunidade. E o facto de ter acontecido na Sala dos Capelos foi a cereja no topo do bolo.
Destacaria também a inauguração do ProAction Lab, que foi um momento muito interessante, em que vieram pessoas de fora, como o meu ex supervisor e um dos melhores investigadores da área das neurociências cognitivas, o Alfonso Caramazza. Foi muito bom ele ter vindo, deu vida também à inauguração. Veio também o Óscar Gonçalves, que felizmente hoje está na UC e que acho que é uma das grandes aquisições da UC nos últimos tempos. E foi também um momento interessante, pelo interesse que gerou.
Depois há outros momentos que marcam no dia a dia, por exemplo com os alunos, quando recebemos mensagens de reconhecimento. Também quando olho para as unidades curriculares, mesmo tendo muitos alunos, e por isso nem sempre existir uma relação pessoal, é bom ver que há avaliações bastante altas, é muito positivo. No caso da relação com os pacientes, o modo como eles se dão é a parte mais interessante. Não apenas os pacientes, mas também os sujeitos experimentais. São pessoas que participam na ressonância magnética, alguns deles por várias horas e dias, que dão à Ciência muito do seu tempo, mesmo sem serem pagos. E essa parte é também muito importante.
No global, olhando para tudo o que disse, os momentos mais marcantes são aqueles em que percebemos que há uma comunidade que olha e que percebe que o que fazemos é interessante e que dão valor ao nosso trabalho, ao que atingimos. Acho que é mais isso que marca do que outra coisa qualquer.
Muita coisa! Neste momento, estamos quase a meio da ERC, em que estamos a desenvolver o projeto ContentMAP, e estamos naquele momento de excitação, minha e dos colaboradores do ProAction Lab, sobre os resultados. E aparentemente temos resultados muito interessantes, que modificam a nossa forma de pensar sobre como as coisas, como diferentes objetos, estão representadas no cérebro. Nós somos fabulosos a reconhecer objetos, é inacreditável a forma como reconhecemos tudo em pouco tempo. Como é que nós fazemos isto? A resposta do ContentMAP é que depende da organização das representações no cérebro. E é isso que nos estamos a procurar mostrar neste momento. É isto que quero descobrir nos próximos dois anos e meio! E os resultados estão quase quentinhos a sair do forno. Se calhar não são tão bonitos como eventualmente queríamos, mas são suficientemente bonitos para haver alguma excitação. Esses resultados estão relacionados com os princípios da organização das representações.
Dois anos e meio é quase aqui ao lado e depois disso, descubra ou não, saiam ou não saiam os resultados no âmbito do projeto ERC, há sempre mais 10 ou 20 questões que vão continuar a surgir nesta área. E uma das questões que mais me interessa é a questão da composicionalidade. Dando um exemplo: se eu pensar numa faca, uma faca tem um cabo, tem uma superfície lisa e fria, tem um conjunto de elementos que nós somos capazes de identificar. E como é que isto tudo se junta no conceito de faca? Como é que isto se junta ao nível neuronal? E como é que isso vai depois influenciar os aspetos de machine learning e de inteligência artificial? Como é que tudo isto se junta para que possamos ter inteligência artificial que é biologicamente plausível? Nos próximos 5 ou 10 anos, talvez este seja um dos tópicos que gostaria de trabalhar, mas outras coisas também vão surgindo. Essencialmente, é a questão de compreender as representações, a forma como reconhecemos as coisas que me fascina mais e que quero potencialmente descobrir para tentar prever como é que cérebro funciona e criar modelos computacionais.
Uma das coisas que acho que pode ser desconhecida é que quando nós olhamos para as respostas neuronais, depois da apresentação de diferentes imagens, vemos que diferentes partes do cérebro fazem diferentes coisas. Há uma grande segregação no cérebro. Nós temos áreas muito claras, muito específicas, muito delineadas para o processamento de faces e essas áreas preferem faces a outros objetos. Depois temos áreas que preferem objetos manipuláveis a outros objetos. Depois temos também áreas que preferem animais ou partes do corpo, por exemplo mãos, a outros objetos. Portanto, temos uma segregação funcional, uma organização por domínios específicos, que é visível praticamente em todas as partes do cérebro. E não estamos a falar de termos diferentes partes que trabalham diferentes sentidos como a visão, a audição ou a parte motora. Claro que isso também demonstra que há segregação, sem qualquer dúvida. A segregação é um marco do modo como o cérebro funciona. E para além da segregação, há também a organização topográfica, em que coisas mais semelhantes estão normalmente mais próximas umas das outras no cérebro, o que significa que há uma organização por semelhança no cérebro.
Porque é que isto acontece? Eu tenho uma ideia, outros investigadores têm outras ideias. Há quem considere que não está relacionado com os domínios específicos, eu acho que está relacionado com isso. E esses domínios são muito importantes ao nível evolutivo. Porque, por exemplo, no reconhecimento de faces, se eu não fosse capaz de distinguir os meus pares dos meus inimigos, ou no reconhecimento de animais, se eu não for capaz de reconhecer um gato versus um leão, possivelmente não iria sobreviver. É esta questão mais evolutiva que pode ter levado a uma segregação de diferentes categorias que são importantes para a nossa sobrevivência. E tudo isto, esta segregação, não sendo do conhecimento da maioria das pessoas, é um facto. Mas os motivos para que isto aconteça é um assunto que podemos debater durante horas. E o estudo das lesões trouxe-nos a questão da localização, de sermos capazes de localizar no cérebro diferentes partes que estão ligadas a diferentes processos.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado em 15.07.2021