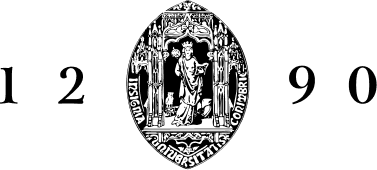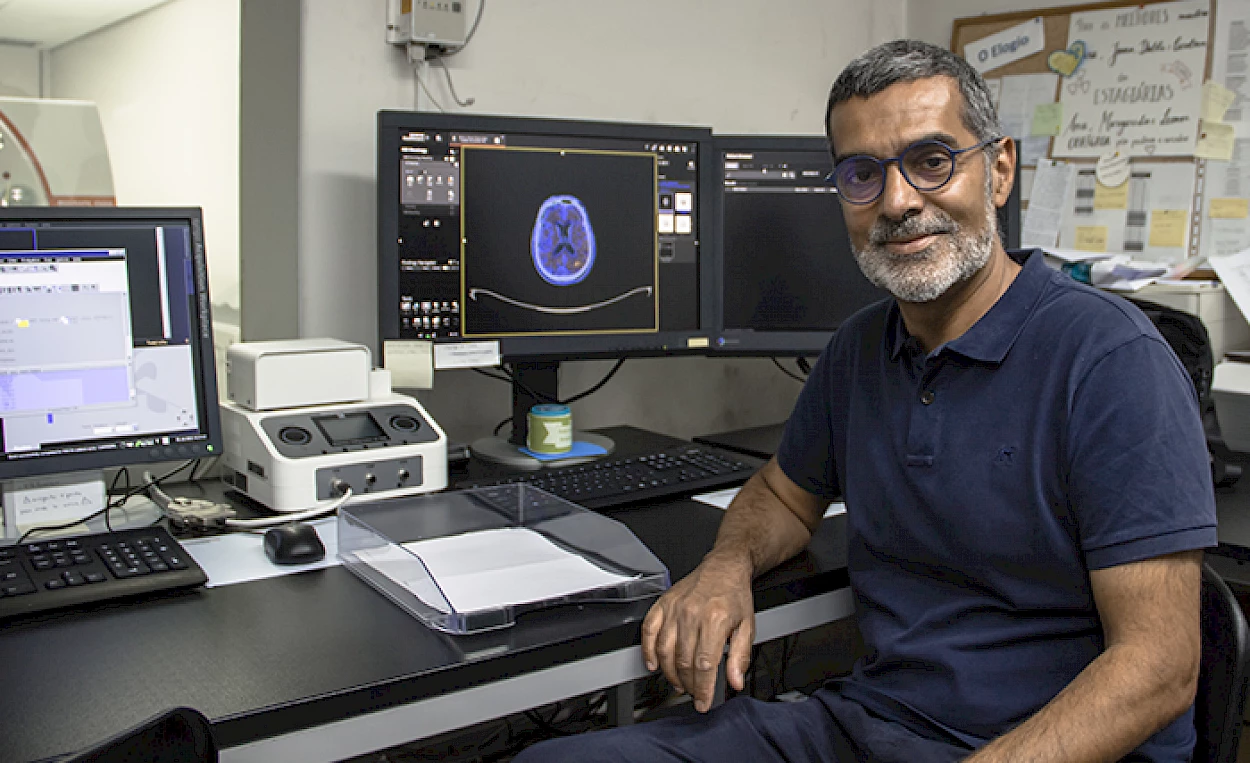Episódio #52 com Miguel Castelo-Branco
A investigação a ser útil para a vida do ser humano
A curiosidade pelo ser humano foi determinante na escolha do percurso académico e profissional que Miguel Castelo-Branco, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional (CIBIT) do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) da Universidade de Coimbra (UC), viria a seguir. Uma curiosidade não apenas em torno do funcionamento e dos momentos de rutura do ser humano, mas também sobre a sua utilidade pessoal e profissional para a vida das pessoas. Hoje, anos depois de ter deixado a prática clínica para seguir caminho na investigação, soma no seu percurso várias descobertas e reconhecidos prémios, como o Prémio BIAL de Medicina Clínica 2022. Para o neurocientista, o real impacto que a investigação tem na vida de doentes e das suas famílias é tão importante como as descobertas científicas. A sua carreira tem vindo também a sublinhar o importante papel da interdisciplinaridade, uma aposta que tem vindo a permitir que diferentes áreas do saber dialoguem e criem sinergias em prol da qualidade de vida das pessoas.
O meu pai estudou na Universidade de Coimbra, era um adepto ferrenho da Académica e conhecia muito bem a cidade. O espírito da UC já vem muito da família. Nunca pensei noutra universidade que não Coimbra. Havia aquela mitologia de Coimbra e do seu espírito académico. E, por isso, não pus sequer a hipótese de ir para outra universidade.
Na adolescência, tinha muito interesse pelo corpo humano e pela mente humana. Sempre me interessou muito o que é ser humano. Mas, na altura, pensava também noutras opções, porque sempre gostei muito das Ciências Exatas, como de Física ou de Matemática. Por isso, estive até ao último minuto a ponderar que curso iria seguir no ensino superior. Mas esta curiosidade do que é ser humano – e, se possível, ser útil ao ser humano – levou-me a estudar Medicina. Aos 14/15 anos não pensava “Vou ser médico”. Era mais a curiosidade que me movia. Posso dizer que a decisão de ir para Medicina foi marcada por três vetores: pela curiosidade pelo ser humano; porque me aproximava muito da realidade de ser uma pessoa; e para perceber se tinha, ou não, vocação para ser útil. Isto determinou muito o meu ingresso em Medicina.
Olhando para trás, vejo que havia uma curiosidade para perceber como é que nós percebemos o mundo, e também um pouco de curiosidade em perceber por que é que o cérebro humano, por vezes, entra em disfunção.
Sim, exatamente. Todas as disciplinas que me marcaram durante o curso tinham muito a ver com as Neurociências: Psicologia Médica, Neurologia e Psiquiatria. E, já naquela altura, lia livros na área do cérebro. Acho que sempre tive vocação para a investigação, mas também ponderava seguir alguma especialidade médica. Aliás, quando terminei o curso, fiz voluntariado em Angola, queria muito ser médico. Sempre houve esta dicotomia de ser um clínico ou fazer investigação e isso também se reflete muito na história do meu percurso.
Permanece ainda muito esta questão de como é que um médico pode fazer investigação. Ainda hoje é uma grande questão, porque sabemos que, no nosso país, não há tempo protegido: se um médico estiver numa carreira clínica, o tempo protegido para a investigação é muito escasso. E nos anos 90 era ainda mais complicado. E foi nessa altura que surgiu a oportunidade de entrar num dos primeiros programas doutorais do país – o Programa Gulbenkian de Doutoramento em Medicina e Biologia –, o primeiro que tinha a palavra Medicina no nome e o primeiro a aceitar médicos. Tinha feito o exame para entrar na especialidade, e cheguei a ser médico interno, mas depois pensei que se queria fazer investigação não podia perder a oportunidade. E decidi entrar no programa de doutoramento, que me permitiu aprofundar o conhecimento científico na área das Neurociências, e também aprender técnicas e metodologias que, na altura, não existiam no país.
Sim, foi quando surgiu um anúncio no jornal Público. Lembro-me de o meu irmão me telefonar para comentar o assunto e para me dizer “Tu sempre gostaste de investigação”. E, claro, há pessoas que também nos influenciam a seguir determinado caminho. E isso também aconteceu comigo, inspirado, por exemplo, pelo Professor António Coutinho, um médico que fez carreira de investigação no Instituto Karolinska, em Estocolmo, e depois na Suíça; e com o Professor Quintanilha. São pessoas inspiradoras. E, nestes momentos de acaso, também nos recordamos de pessoas que nos inspiram. Foi esta conjugação que me levou a decidir frequentar o programa doutoral.
Devo dizer que estive três meses hesitante, porque entrei no internato, mas tinha três meses de curso antes de entrar mesmo no hospital, que coincidiu com a altura em que fiz os primeiros cursos do programa doutoral. Mas depois decidi continuar o doutoramento.
É uma excelente questão. Quando pensamos nas recompensas que a investigação nos pode dar, há vários tipos de impacto que podemos ter: o impacto científico, o impacto na sociedade, e até o impacto no mercado, se quisermos fazer transferência de tecnologia. Todas estas dimensões me seduzem.
Posso dizer que ver um projeto, em que desenvolvemos uma terapia, a ter impacto na vida de um doente é uma recompensa enorme. Neste caso, talvez seja o coração de médico a falar. Mas, uma vez que no CIBIT fazemos investigação translacional, se calhar a descoberta que me trouxe mais recompensa foi um trabalho que publicámos numa revista prestigiada na área da Neurologia, na Brain, em que provámos que o mecanismo de uma doença que existia no modelo animal, que era uma alteração da transmissão inibitória, era verdade no ser humano. E fomos os primeiros a verificar isso.
Curiosamente, a investigação no modelo animal foi feita também por investigadores portugueses, pelo Doutor Rui Costa, que hoje é CEO do Allen Institute, nos Estados Unidos da América. Tiveram publicações de alto impacto no modelo animal, mas ninguém sabia se era verdade no ser humano. E nós provámos que era, e isso gerou uma linha de investigação, que depois desembocou nos projetos que tenho na área do autismo, e em estudos e ensaios terapêuticos, que temos estado a fazer para perceber se conseguimos modelar esta inibição.
De várias maneiras. Sou vice-presidente da Associação para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra e faço parte da Federação Portuguesa de Autismo. Uma das minhas alunas de doutoramento foi presidente da Associação Portuguesa dos Doentes Huntington. Portanto, tenho um contacto muito próximo com associações de doentes.
Recentemente, organizei um evento muito atípico na Universidade de Coimbra focado nas famílias de doentes. Tivemos 250 inscritos e vieram famílias de pessoas com autismo de todo o país. E, volta e meia, recebemos na UC pessoas com o diagnóstico que nos querem visitar. Esse contacto é muito próximo, mas também é consubstanciado em projetos de investigação, e não só em projetos relacionados com perturbações de neurodesenvolvimento. Tivemos um projeto empresarial com a InteliCare, no qual desenvolvemos jogos para treino cognitivo, e íamos aos centros de dia com jogos em tablet para ensinar os seniores a usar estas tecnologias para treino cognitivo.
Temos feito o mesmo na área do autismo, criando jogos que melhorem as competências, competências tão simples como usar transportes públicos ou como fazer pequenas refeições no mundo virtual. Este trabalho traz um impacto diferente do impacto científico. Posso partilhar que publicámos o tal jogo de uso de transportes públicos e fomos contactados por escolas dos Estados Unidos e do Canadá. E o nosso grande desafio atual é disponibilizar este tipo de tecnologias a quem precise.
A interdisciplinaridade. O trabalho que temos feito na Faculdade de Medicina e no ICNAS é desenvolvido, no dia a dia, com psicólogos, engenheiros físicos, engenheiros informáticos, pessoas de praticamente todas as Unidades Orgânicas da UC. Orgulhamo-nos muito de ter alunos de todas as faculdades e profissionais de todas as competências. A interdisciplinaridade caracteriza muito o nosso percurso.
Temos alunos de doutoramento em colaboração com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, em colaboração com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação ou em colaboração com a Faculdade de Ciências e Tecnologia e com os seus vários Departamentos, em áreas como a Robótica ou a Informática. Até com a Faculdade de Letras temos algumas colaborações. Lembro-me que, há pouco tempo, fizemos, com o Núcleo de Estudantes da Faculdade de Letras, uma sessão para alunos com necessidades especiais. É um percurso que tentamos que seja interdisciplinar e em franco diálogo com pessoas com diferentes tipos de formação.
Diria que é fundamental procurar esta interdisciplinaridade e sermos exigentes uns com os outros. Vivemos num mundo competitivo, por isso, é importante sermos críticos, mas abertos. E sermos também ambiciosos.
Produção e Edição de Conteúdos: Ana Bartolomeu, DCOM, Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Ana Bartolomeu, DCOM e Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 07.09.2023