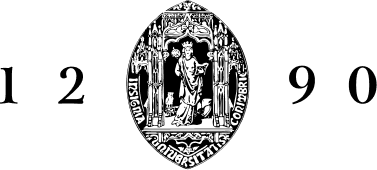Episódio #47 com Luís Trindade
A sala de aula como um lugar para aprender a pensar criticamente o passado e o mundo
A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) e a Associação Académica de Coimbra (AAC) foram a casa de Luís Trindade durante a sua primeira passagem por Coimbra, enquanto estudante da licenciatura em História. Mais de 20 anos depois, em 2020, regressou à Universidade de Coimbra (UC) para lecionar, precisamente, na licenciatura em que se formou. Hoje é professor da FLUC, uma função que assume não apenas para ensinar História, mas também para apoiar as/os estudantes a pensar criticamente o passado e o mundo. Uma boa parte do seu tempo é também dedicada ao Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20), enquanto vice-coordenador e investigador, uma unidade de investigação da Universidade de Coimbra que procura promover o diálogo entre disciplinas que geralmente não se cruzam.
Fui estudante de História na Universidade de Coimbra, na primeira metade dos anos 90. E foi como estudante que vinha de fora que começou este percurso. Sou de Lisboa e penso que não era – e continua a não ser – muito comum esta dinâmica. Foram anos extraordinários, durante os quais não só tive a oportunidade de viver fora de casa e de experimentar a vida de estudante, mas também porque foram anos muito interessantes em termos de associativismo, quando descobri a Associação Académica de Coimbra. A minha memória de estudante mantém-se muito partilhada entre a licenciatura em História e a Associação Académica de Coimbra. Estive envolvido na AAC num momento intenso de luta contra as propinas, nos governos de Cavaco Silva, que foi muito marcante para mim.
Às vezes penso nisso e acho que resulta de um misto entre algum entusiasmo infantil pelo passado e o fascínio da descoberta, inspirado, por exemplo, no Templo do Sol, do Tintim, que tem uma cena absolutamente extraordinária em que o Tintim salta sobre uma cascata e descobre por trás um templo Inca.
No ensino secundário, dividi-me muito entre seguir caminho no Jornalismo e na História. E, vendo hoje em retrospetiva, isso significa que o que eu queria era escrever ou contar histórias, de alguma maneira. Provavelmente, se tivesse ingressado na universidade no final do 11.º ano, teria ido para Jornalismo, porque tive no 10.º e no 11.º ano uma professora que me influenciou muito e que foi muito importante para mim. Mas, no 12.º ano tive um professor de História que fez o mesmo e foi muito por causa dele e por ele ser um grande contador de histórias que segui este caminho. Na História há sempre esta zona cinzenta entre a História com H grande, a História-Ciência e as histórias que se contam. E eu gosto dessa zona cinzenta. E foi esse professor, provavelmente, que me deu a volta e me trouxe à área da História.
Já na Faculdade de Letras, tive outros tantos professores que me ajudaram a perceber que o que eu queria era fazer investigação. Quando entrei na UC não sabia se queria tornar-me professor do ensino secundário ou se ia para investigação. E houve cá quem me tivesse levado para a investigação.
O último livro que escrevi foi sobre a música popular no pós-guerra na sociedade portuguesa e pretendo continuar esse estudo. É um livro demasiado extenso e, na verdade, ficou a meio daquilo que eu queria escrever. Quando comecei a escrevê-lo pensei que ia ter oito capítulos; acabou com quatro e, por isso, ainda há mais quatro para escrever. Se tiver energias, escreverei esse segundo volume.
Mas o que me tem preocupado cada vez mais, em todas essas áreas de estudo que tenho vindo a trabalhar (o cinema, a música popular, a literatura popular e a imprensa), são os públicos. E, neste âmbito, a ideia passa por ir abandonando a perspetiva dos autores, das obras, dos intelectuais e dos artistas para tentar perceber – e isto é mais difícil – quem lê o jornal, quem vê o filme, quem ouve a canção ou quem vê o programa de televisão. Estou a tentar olhar para a cultura do século XX em Portugal para contar uma história da cultura sem Fernando Pessoa, sem José Saramago, sem António Sérgio, sem Eduardo Lourenço, e tentar antes perceber como é que era ir ao cinema no início do século XX ou como era ir a um concerto de rock nos anos 80. As fontes são um bocadinho mais difíceis de aceder, mas penso que esta análise vai permitir uma outra visão sobre a cultura, que nos permite fazer associações mais frutíferas com a economia, a política e a sociedade.
Nos primeiros anos da licenciatura, andava um bocadinho inseguro e com um percurso um pouco incerto, porque andava, sobretudo, muito ocupado com a Associação Académica de Coimbra. Mas houve um clique nas aulas de Teoria da História – unidade curricular que hoje leciono –, que eram, talvez, as aulas mais improváveis para me fazerem sentir que queria mesmo fazer este caminho.
Na altura, essas aulas eram lecionadas por Fernando Catroga, um grande historiador da Faculdade de Letras, que já se aposentou, e um grande historiador da História Contemporânea Portuguesa. As aulas dele eram momentos que nos ensinavam a pensar. Não eram aulas simples, eram aulas onde nos “atirava” com questões muito complexas sobre o que é a História. E, a partir daí, fiquei com uma noção muito clara que a Teoria da História é uma cadeira que nos permite pensar sobre todas as outras áreas historiográficas. E, no fundo, é um pouco isso que tento trazer para as minhas aulas: obrigar os alunos a perceber como é que eles se posicionam em relação ao passado; que a História não é uma coisa transparente; que o que temos do passado são interpretações e análises; que não é o passado em si próprio que nos aparece à frente nos livros ou nos filmes. Ao obrigá-los a pensar um pouco sobre tudo isto considero que ficam não só com um melhor conhecimento crítico em relação ao passado, mas também adquirem ferramentas para que possam olhar para a realidade como algo que é complexo, que raramente é unívoco e que raramente, ou nunca, é transparente.
Antes de começar a dar aulas na Faculdade de Letras, em 2020, estive 12 anos a dar aulas sobre cultura portuguesa e história de Portugal numa universidade em Londres para trabalhadores-estudantes, alunos muito mais velhos com um perfil completamente diferente. Mas tinha poucos alunos na sala de aula e, nesse sentido, foi uma experiência um pouco frustrante. Ao mesmo tempo, essa experiência ensinou-me a dar aulas, porque a universidade inglesa, em termos pedagógicos, é muitíssimo sofisticada e eu procuro trazer alguma coisa do que aprendi lá para as aulas aqui na FLUC.
Na Faculdade de Letras sinto que posso fazer um pouco mais a diferença porque tenho auditórios com mais gente. Normalmente queixamo-nos de que temos alunos a mais e isso é, claro, um problema quer na avaliação, quer na atenção personalizada que devemos tentar dar a cada estudante; mas sinto que se der uma boa aula quando tenho várias dezenas de alunos e alunas à minha frente posso estar a fazer um bocadinho a diferença em relação àquele futuro professor ou professora, investigador ou investigadora, ou meramente aos cidadãos que dali estão a sair e que eu espero que saiam da Universidade de Coimbra com ferramentas críticas.
O CEIS20 é um sítio extraordinariamente interessante, porque se coloca a si próprio o desafio da interdisciplinaridade. É muito mais fácil o percurso numa unidade de investigação ou mesmo um departamento que se dedica a uma única disciplina: o diálogo é mais fácil, encontrar parceiros é mais fácil; descobrir ou desenvolver atividades e organizar a estrutura do centro ou do departamento é mais fácil quando estamos a falar de uma disciplina só. No caso do CEIS20, o centro tem muitas disciplinas e procura, de facto, ser um sítio onde estas dialogam.
Enquanto investigador, e nos últimos dois anos também como membro da coordenação, temos tentado desenvolver uma política científica que seja realmente capaz de pôr as pessoas e as disciplinas a dialogar umas com as outras: fazer com que alguém que venha das Ciências da Comunicação saiba conversar com alguém que venha da Historiografia, e que este saiba dialogar com alguém que venha das Humanidades Digitais.
A ideia central é que as pessoas que estão a fazer coisas aparentemente tão diferentes consigam dialogar. E a forma como pessoas de disciplinas diferentes conseguem dialogar é pela teoria. Para dar um exemplo, os investigadores podem usar conceitos – como política ou poder – e explicar o que é que estes conceitos querem dizer através do olhar das suas áreas do saber. E o CEIS20 está a trilhar esse caminho desafiante de pôr pessoas muito diferentes a conversar sobre assuntos comuns.
Levo, seguramente, coisas diferentes se compararmos o momento em que deixei a licenciatura (em meados dos anos 90) e o momento atual, vinte e tal anos depois. E, neste regresso, fiquei muito espantado com a faculdade e com a licenciatura em História que encontrei. Saí de Coimbra nos anos 90 com a sensação de que estavam cá alguns dos maiores historiadores portugueses, mas que a estrutura era um pouco antiquada. E o que encontrei no regresso foi uma universidade muito aberta, não só ao exterior, como internamente. Isto pode parecer paradoxal, mas passo a explicar.
Atualmente, há um sistema que faz com que os alunos tenham de circular entre cursos. Não podem fazer cadeiras só da sua licenciatura, da sua secção ou do seu departamento, e têm de procurar noutras áreas cadeiras para fazerem formação geral, para fazer menor. Em todas as instituições onde passei isto era uma aspiração que nunca tinha resultado. Passei por universidades como a Universidade Nova de Lisboa, que tem apenas umas décadas, ou o Birkbeck College, da Universidade Londres, que contava sobre si próprio uma narrativa muito experimental e aberta, mas esta capacidade de os alunos circularem por várias áreas do saber nunca tinha resultado muito bem. E na Faculdade de Letras resulta. Isso foi, seguramente, aquilo que vi de mais interessante no regresso à FLUC e foi espantoso ver essa abertura. Esta dinâmica não só funciona, como é muitíssimo enriquecedora para os alunos. No caso dos alunos de História, têm não só uma formação que me parece bastante sólida e abrangente, mas podem também experimentar alguma coisa nas Literaturas, na Filosofia ou na Arqueologia e isso deixa-os seguramente muito mais ricos.
Esta abertura é muito difícil, porque a universidade e as disciplinas tendem a cristalizar. Ter havido esta capacidade de abrir e fazer com que ninguém se questione sobre a existência de alunos que vêm de outros departamentos na sua sala de aula é uma enorme conquista. Para mim, foi muito surpreendente, porque tinha cá estado numa altura em que a universidade era muito diferente, mas também porque tinha passado por outros sítios onde vi que isto era muito difícil de alcançar.
Em linha com o que disse na resposta à pergunta anterior, e porque tenho pensado muito nisto nos últimos três anos, destacaria esta reflexão sobre como foi possível fazer esta reforma numa universidade tão antiga. Penso que foi o resultado de uma combinação de tradição com modernidade: um dos motivos que pode explicar como é que foi possível fazer esta reforma curricular e implementá-la com êxito foi a segurança de ser uma instituição muito antiga. Eu que não sou um tradicionalista – nunca usei capa e batina, por exemplo – sinto que a Universidade de Coimbra tem essa potencialidade de mudar e de não ficar presa ao passado, usando o património e a sua história como forças para a reforma. Se se conseguir manter esta dinâmica, temos aqui uma ótima forma de encarar o futuro. E penso que este exemplo da reforma curricular que encontrei mais de 20 anos depois de ter saído da FLUC, apesar de muito circunscrito, é um bastante inspirador.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Ana Bartolomeu, DCOM e Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 23.03.2023