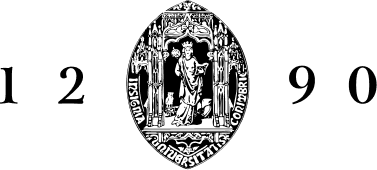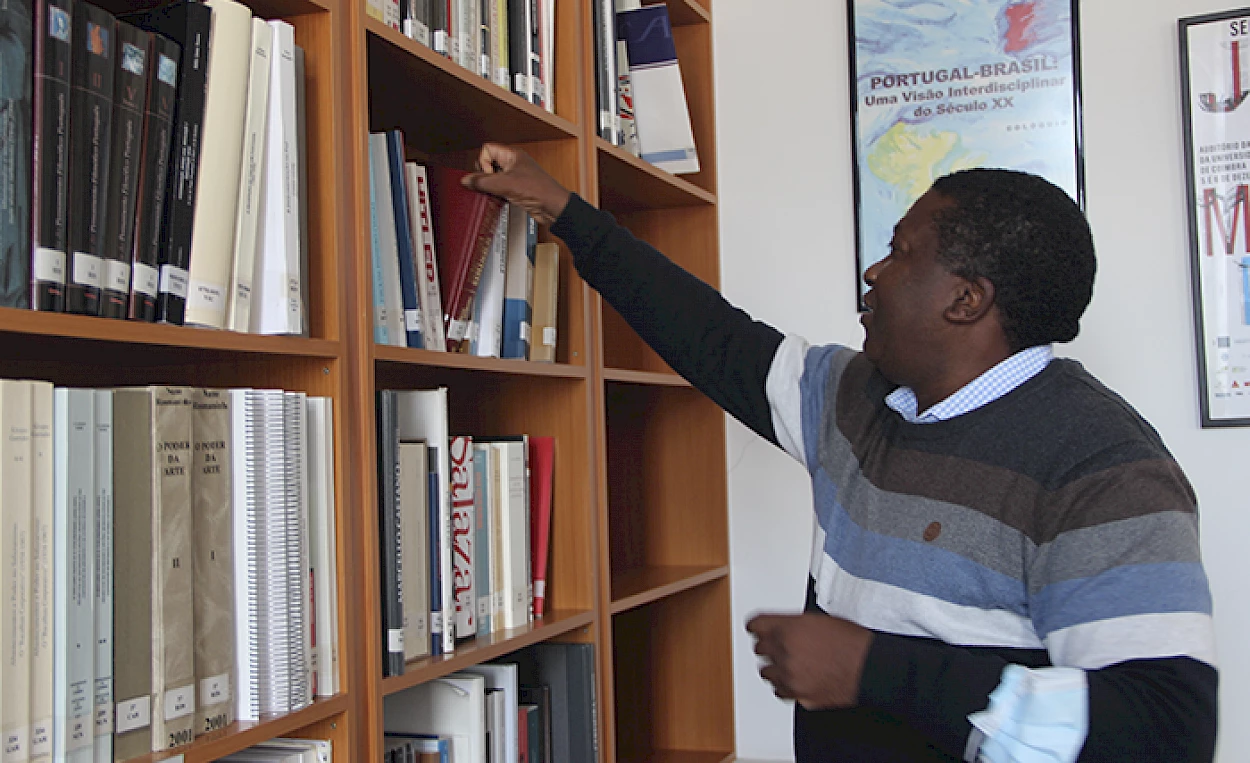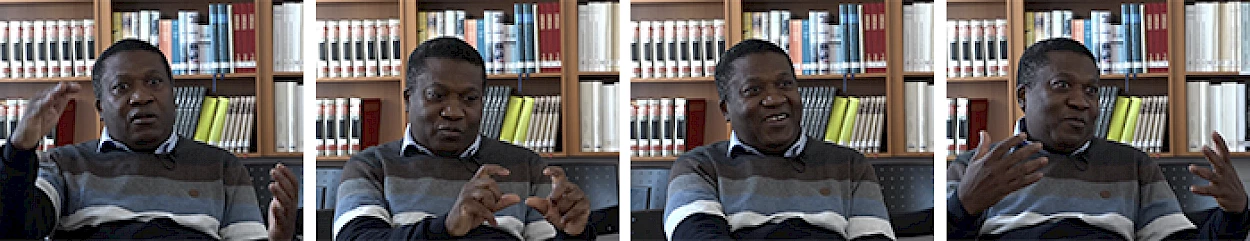Episódio #27 com Julião Soares Sousa
A importância da História para pensar o presente e o futuro refletindo sobre os erros do passado
Chegou ao Norte de Portugal em 1981, vindo da Guiné-Bissau. O percurso de Julião Soares Sousa no ensino superior já estava escolhido e o caminho passava por estudar Medicina. No entanto, quando não se conseguiu inscrever no curso de Ciências, os Estudos Humanísticos foram a segunda opção. E acabou por fazer a licenciatura, o mestrado e o doutoramento na área de História. Foi com o seu trabalho sobre Amílcar Cabral, figura central da independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que o investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) conquistou várias distinções, entre elas uma premiação da Academia Portuguesa da História. Atualmente, mantém-se a investigar temas que o apaixonam – como a Guiné-Bissau ou África – e tem dedicado o seu mais recente projeto de investigação aos impactos do colonialismo no meio ambiente. No futuro, os temas a aprofundar estão em aberto, mas há uma certeza sempre presente no trabalho do historiador: a responsabilidade de transmitir o conhecimento que produz às pessoas.
A minha entrada na Universidade ocorre nos anos 80, designadamente em 1986, altura em que vim do liceu, que fiz no Norte de Portugal, para a Universidade através dos concursos de acesso. Chego aqui no outono de 1986, como jovem caloiro na área da História, que não era a minha área inicial, porque era da área das Ciências. Infelizmente, quando cheguei da Guiné e me fui matricular no liceu não havia vaga na área de Ciências. Eu devia ter feito Medicina. E para não ficar um ano à espera, fui para a área de Estudos Humanísticos. Foi a partir daí que ingressei na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde acabei por fazer a licenciatura, mais tarde o mestrado e muito mais tarde ingressei no doutoramento.
A Universidade de Coimbra tem mais de 700 anos. É uma Universidade com grande projeção internacional. E tendo sido a Guiné uma colónia de Portugal, é natural que as pessoas já conhecessem a Universidade de Coimbra. Falava-se muito da Universidade de Coimbra na Guiné-Bissau. Quando era novo, nem sabia que existiam outras universidades no mundo. A Universidade que surgia a todo o instante nas bocas dos guineenses, e até no seio da minha família, era a Universidade de Coimbra. Portanto, desde muito cedo tive esse contacto preliminar com a UC, sem saber onde é que estava localizada.
Havia também uma vontade dentro da minha família que eu viesse a estudar aqui. E isto não se passou apenas comigo, passou-se com a maioria dos guineenses que estudavam naquela altura. Todos tinham essa atração pela Universidade de Coimbra, que estava relacionada com o conhecimento que se tinha da projeção da UC, não só à escala dos territórios que eram colonizados por Portugal, mas também à escala global. E só quando cheguei à Universidade, em 1986, é que comecei a perceber que a UC não era uma universidade pequena, mas um grande espaço de intercâmbio cultural e científico.
A partir do momento em que entrei no curso, fui contactando com as várias disciplinas e os temas que foram surgindo, e acabei por adaptar-me. E gostei imenso. Gostei e gosto, porque continuo a fazer a minha carreira na área. Gostei porque, com a História, aprendemos a conhecer o nosso passado, mas também a ter a noção de como é que o passado pode ter alguma influência no presente, e também no próprio futuro. Não é por acaso que Cícero dizia que a História era a mestra da vida. É uma expressão que nos ajuda a entender muito bem o que é que a História pode representar para a nossa sociedade e para nós enquanto indivíduos.
Sobre a adaptação à História, foi muito rápida e permitiu-me entrar na engrenagem e começar a pensar, inclusivamente, em projetos que gostaria de fazer, sobretudo pesquisas relacionadas com a Guiné-Bissau ou com África, que são temas que me têm apaixonado ao longo das últimas décadas. Não foi fácil no início, porque sempre tive mais contacto com a área das Ciências e, de repente, tive que me adaptar a novas metodologias e conceitos. Mas acabei por adaptar-me. Temos que ser resilientes e adaptar-nos às situações e foi isso que aconteceu. E continuo apaixonado por esta área e acho que já não a vou abandonar.
A investigação é a área que me tem apaixonado, mas é possível conciliá-la sempre a investigação com o ensino, por exemplo. Sobretudo, gostaria imenso de trabalhar, algum dia, num manual que servisse, por exemplo, os alunos da Guiné que não têm manuais na área da História e isso seria importante para eles. Ao longo dos últimos anos, há áreas que me têm apaixonado e vou ter que ir aprofundando essas temáticas na perspetiva de trabalhar não só na produção de conhecimento, mas também na transmissão desse conhecimento. Acho que seria muito bom vir a seguir este caminho.
O trabalho sobre Amílcar Cabral surge num contexto muito particular. Eu começo a preparar o projeto de doutoramento em 1999. Um ano antes, tinha começado um conflito civil na Guiné que se prolongou praticamente durante um ano (de 1998 a 1999) e eu, muito preocupado com esse conflito, pensei que se calhar seria o momento adequado para tentar recuperar um bocadinho aquilo que foram as ideias do Amílcar Cabral.
Não entendia porque é que, de repente, as pessoas tinham que agarrar em armas para provocar esse conflito que se calhar não teve resultados nenhuns. Porque quando se entra num conflito será no sentido de tentar transformar qualquer coisa, transformar a sociedade para melhor, naturalmente. Quando se consentem sacrifícios em vidas humanas, em propriedades, a transformação tem que ser sempre no sentido positivo e não estava a acontecer, no caso concreto da Guiné (ainda hoje, a Guiné vive numa situação muito complexa e é sobressaltada sazonalmente por conflitos políticos). Naquela altura, queria entender porque é que se tinha chegado a essa situação de violência quase sistémica. E o caminho era ver se estudava Amílcar Cabral na tentativa de recuperar algumas das suas ideias. Não entendia porque é que as pessoas tinham que agarrar em armas. Mais tarde, como resultado do trabalho que desenvolvi, vim a entender que ele, de facto, defendia que era muito mais importante um homem que leva uma enxada do que um homem que leva uma arma. O trabalho surge neste contexto particular, com uma perspetiva de tentar trazê-lo a debate (muitas vezes, os nossos políticos citam Amílcar Cabral, mas provavelmente nunca tinham lido nada sobre ele).
Não foi um trabalho fácil de desenvolver. Nenhum trabalho é. Mas o resultado parece-me interessante porque, de facto, hoje a obra é uma referência ao nível dos estudos sobre Amílcar Cabral. E isso deixa-me satisfeito. No início, nunca pensei que este trabalho viesse a ter tanta projeção, incluindo ganhar o Prémio Fundação Calouste Gulbenkian História Moderna e Contemporânea de Portugal, da Academia Portuguesa da História, e diplomas de mérito, como aconteceu em 2021 com a Fundação Amílcar Cabral, que está sediada em Cabo Verde.
Um dos aspetos fundamentais da investigação é a questão metodológica, porque vivemos muito das pesquisas nos arquivos e dos acessos às fontes. E quando há dificuldades no acesso às fontes, as coisas ficam um bocadinho mais complicadas. Mas por acaso, na altura em que desenvolvi a investigação, mesmo com alguma persistência minha, não consegui documentação em determinados arquivos. Por exemplo, o arquivo do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) – fundado por Amílcar Cabral em finais dos anos 50 – não estava acessível, mas parte desse arquivo tinha sido trazida da Guiné para Lisboa (nesta altura, está sediada na Fundação Mário Soares) e foi muito, muito importante para o trabalho. Também insisti muito com pessoas que estiveram com Amílcar Cabral nesse processo de libertação nacional que tinham alguma documentação em casa. E isto acabou por me ajudar muito, muito. E mesmo elementos da oposição ao partido que ele fundou também tinham documentação em casa que me permitiu fazer o cruzamento de informação.
No meu caso, tenho em curso um projeto de investigação, um projeto novo e que não tem nada a ver com o que estava a fazer no passado. Há perguntas que nós colocamos nesses projetos e temos que tentar responder a essas questões. E, além disso, o nosso trabalho passa muito por pesquisas nos arquivos, nas bibliotecas, e isso ocupa-nos muito tempo, entre viagens e a procura de fontes que possam responder àquelas expetativas e perguntas que inicialmente elaborámos. Isso tira-nos muito tempo. Por exemplo, nesta altura, a pandemia complicou um bocadinho a vida, porque muitas bibliotecas e arquivos estiveram fechados durante meses. São estas coisas que nos mantêm, diariamente, em pesquisa quase permanente. É um trabalho que, às vezes, parece ser um trabalho muito solitário, sobretudo nesta altura das pesquisas e das investigações. Mas depois, quando aparecem os resultados concretos (tudo o que é pesquisa deve produzir resultados concretos), esse trabalho já não nos pertence e parte à conquista do mundo.
Temos que estar, permanentemente, a fazer pesquisas, consultas, leituras. Mas nunca ficamos completamente desligados do que fizemos no passado. Ainda hoje recebo solicitações para escrever artigos relacionados com Amílcar Cabral, com as ligações transnacionais do PAIGC com alguns países no contexto da Guerra Fria. Não podemos ficar parados e confinados apenas ao projeto de investigação que temos em curso ou ao que fizemos no passado. Temos que ter alguma flexibilidade também para ir incorporando esses trabalhos e não ficarmos completamente desligados daquilo que temos vindo a fazer. Temos que arranjar espaço para tudo. E todo este processo torna a investigação um trabalho agitado, às vezes frenético.
Estou a trabalhar sobre os impactos do colonialismo no meio ambiente, por exemplo. É um tema que está muito ligado a um trabalho de pesquisa que fiz no âmbito do mestrado em História Moderna, embora neste projeto tenha escolhido um âmbito cronológico diferente, que vai de 1800 a 1975. Há aqui um percurso bastante amplo em que se pretende ver como é que o colonialismo – por causa das alterações que houve sobretudo a partir de finais do século XVIII e princípios do século XIX – instigou, digamos assim, a exploração intensiva do solo e quais foram as consequências dessa exploração. A partir de uma determinada altura, sobretudo inícios do século XIX, houve uma mudança drástica: o fim da escravatura provocou uma tentativa de adaptação do colonialismo a uma nova realidade. E há aqui uma tentativa para a exploração intensiva do solo justamente na perspetiva de apoiar, digamos assim, o processo de industrialização que estava a ocorrer na Europa. Claro que isto afetou muito os territórios que eram colonizados. Por exemplo, a Guiné, nessa altura, foi praticamente dividida às sociedades agrícolas, com grandes hectares de terrenos a serem destruídos. E isto teve impactos enormes naquilo que presentemente se chama crise ambiental. A própria Guiné é, inclusive, um bom campo para percebermos o que é que se vai passar e fazermos esse ensaio sobre as alterações climáticas. É um país que está a sofrer os impactos a três níveis: no âmbito global; no âmbito regional, porque é um país que já sofre muito a influência do deserto, com problemas de erosão do solo; e também com impactos locais.
Essas alterações e impactos que o colonialismo teve também se prolongaram, nomeadamente na Guerra Colonial, com o uso de determinado tipo de bombas, que provocou danos muito importantes no meio ambiente. É isto que estou a tentar atualmente analisar e vou, com certeza e na altura própria, ter algum resultado concreto. No final, a ideia passa, inclusive, por produzir algum manual para as escolas da Guiné, para explicar como é que foi a evolução da floresta e como é que ela é importante para a nossa própria sobrevivência enquanto seres humanos.
É um bocado difícil responder a essa pergunta, porque nós vamos sofrendo influências até dos contextos. Mas o que é evidente é que dificilmente me vou libertar dos temas que tenho vindo a trabalhar. É quase impensável libertar-me dos temas que trabalhei no passado, porque os trabalhos marcam as pessoas. À medida que o tempo passa, parece que as temáticas que trabalhei – como Amílcar Cabral e a luta de libertação nacional – vão ganhando mais interesse no campo historiográfico. Nós temos sempre a responsabilidade de não só produzir o conhecimento, mas também de transmitir esse conhecimento às populações. Por isso, continuamos sempre com esse vínculo ao que já trabalhámos. Isto não significa que não possam surgir novas temáticas de investigação, mas é difícil assumir claramente o que vou fazer no futuro. Amanhã logo, logo se verá.
Naturalmente, é importante que as pessoas (mesmo fazendo pesquisas e estudos em áreas completamente diferentes) tenham acesso a trabalhos na área da História, conhecendo um pouco da História, porque isso permite-nos não só ter contacto com outras populações, culturas e percursos, mas permite-nos também sermos mais resilientes e sabermos evitar alguns erros cometidos no passado, que é importante. Às vezes, o ser humano parece descurar esse aspeto de que é preciso aprender com o passado, justamente para corrigir os erros e evitar reincidir nesses mesmos erros.
O contacto com a História é também importante no sentido de o ser humano ser muito mais solidário, mais fraterno, como se nós fossemos constituídos dos mesmos elementos, como de facto somos! A História ajuda-nos a ser solidários, a evitar os erros, porque os erros estão na origem de alguns conflitos que ainda hoje assolam o nosso mundo. O conselho que poderia deixar é: se puderem, se tiverem tempo, leiam História, leiam livros, façam pesquisas, porque a única forma de conseguirmos transformar o mundo no sentido positivo é, de facto, por via da História. É esta a mensagem que gostaria de deixar.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 21.04.2022