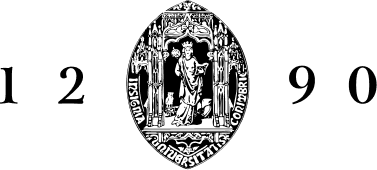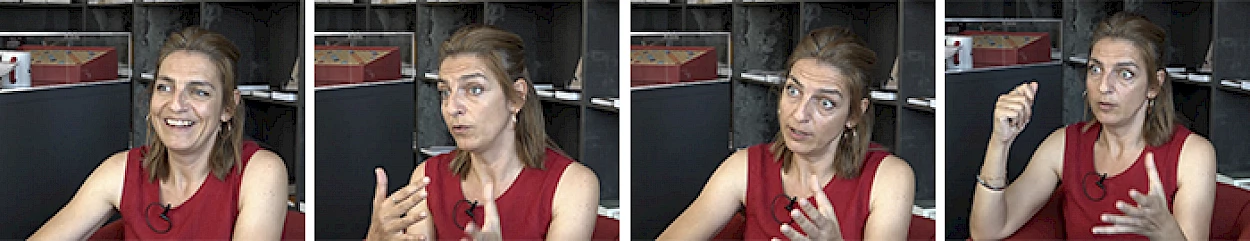Episódio #11 com Mónica Lopes
Pôr as mãos no terreno em prol da liberdade de escolhas e de realização de homens e mulheres
O espírito inquieto trouxe-a à Sociologia. Chegou à Universidade de Coimbra (UC) para iniciar os seus estudos superiores e a dimensão transformadora da disciplina fez com Mónica Lopes continuasse neste caminho, sendo hoje investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) e coordenadora nacional do projeto SUPERA - Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia. Como nos explicou durante a entrevista que decorreu no CES, o contacto direto com as pessoas da comunidade UC permitiu-lhe compreender com maior clareza as desigualdades que ainda existem entre homens e mulheres. O facto de ver que a igualdade de género está mais presente nas discussões e nas ações do quotidiano na Universidade de Coimbra dão alento ao seu trabalho, um trabalho que passa não apenas por olhar para o comportamento das outras pessoas, como também para o seu. Uma reflexividade que Mónica Lopes considera essencial para toda a comunidade compreender e atenuar os seus próprios enviesamentos e produção de estereótipos.
O meu percurso na Universidade de Coimbra começou há mais de 20 anos, em 1997, quando, vinda de uma aldeia nas proximidades de Leiria, vim estudar Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC). Fiz aqui o meu percurso de 1.º ciclo. Assim que acabei a licenciatura, em 2002, surgiu a oportunidade de ingressar num projeto do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para trabalhar com uma das minhas professoras de referência na faculdade, a Virgínia Ferreira. Desde essa altura que tenho vindo a trabalhar em projetos de investigação, em projetos de avaliação e em projetos de investigação-ação em várias áreas temáticas, mas com foco particular nos Estudos de Género. Durante este percurso, a determinada altura e no âmbito da participação num projeto, surgiu o mestrado e foi sendo um percurso orgânico. Fiz o mestrado também em Sociologia, com foco nas Políticas Sociais, também na FEUC. Em 2018 terminei o meu doutoramento, também em Sociologia, mas numa área um pouco diferente, na área da Avaliação das Organizações do Terceiro Setor. Toda esta articulação temática se fez ao longo do meu processo de investigação no CES, onde ainda me mantenho até hoje.
Escolhi trabalhar nesta área há muitos anos. Creio que passei por uma inquietude partilhada por outras pessoas jovens que na altura de escolher o percurso no ensino superior ainda não estão muito seguras daquilo que querem fazer. A Sociologia não foi uma escolha muito pensada, embora o meu espírito inquieto, a minha determinação, a minha procura de respostas, o questionamento constante da realidade social que me rodeava e até mesmo alguma irreverência tinham em mim algumas características que, à partida, estariam alinhadas com esta área. Tinha também alguma orientação e preocupação com o comportamento humano e com a mente humana. E, portanto, oscilava entre a Sociologia e a Psicologia. Recordo-me que quando estava a fazer a inscrição ainda não estava certa daquilo que iria escolher, porque não tinha tido Sociologia. Mas como era uma área muito abrangente e como eu era identificada, desde há muitos anos, como a defensora dos oprimidos, criei a ideia de que a reflexividade social e o foco nas relações humanas e na articulação entre as pessoas e os seus contextos era algo que eu iria gostaria de desenvolver melhor. No período de inscrição, uma das minhas professoras estava presente e eu estava a partilhar com ela esta dúvida e ela disse-me: “Mónica, passaste recentemente por uma situação pessoal muito complicada, uma perda de uma familiar chegada, e creio que as tuas opções podem estar condicionadas por essa vivência pessoal. Não sei se a Psicologia não te vai desestabilizar mais.” Hoje em dia questiono muito estas palavras, acho que na verdade não fazem muito sentido, mas foi suficientemente convincente para eu escolher Sociologia. E aqui estou eu, convencidíssima! Desde as primeiras semanas de aulas fiquei absolutamente fascinada com o curso, fui muito inspirada pelas pessoas que me deram aulas e por esta visão do mundo que a Sociologia me propiciou e pelos instrumentos tão ricos que me dá para questionar a realidade e para responder a alguns dos desafios que esta realidade nos coloca em termos de compreensão das relações sociais e humanas. Foi desta forma que ingressei na área da Sociologia.
O que torna esta área aliciante são os instrumentos que a Sociologia nos dá, que o pensamento sociológico nos dá, para questionar, de uma forma sustentada, aquilo que para nós são realidades naturais, imutáveis e aleatórias. A Sociologia permite-nos ter uma visão crítica sobre aquilo que, à partida, nós não questionamos. Permite-nos olhar para além do óbvio, do evidente. Permite-nos encontrar regularidades e padrões em comportamentos que se distanciam das pessoas e que organizam estruturas que influenciam e que definem o comportamento. Um dos aspetos que desde sempre me aliciou na Sociologia foi dar-me instrumentos para perceber as desigualdades a partir das questões de género, de raça ou da condição socioeconómica. Todas estas desigualdades têm uma distribuição que não é aleatória e, portanto, os problemas sociais, nos vários domínios da vida, afetam grupos diferentes de forma diferenciada. Nada do que se nos apresenta é linear: há uma complexidade inerente que temos que contextualizar, que temos que questionar e temos que procurar diversas dimensões a partir das quais vamos analisar determinado fenómeno para termos uma compreensão completa e mais abrangente de determinada realidade.
A Sociologia não nos permite apenas ter um olhar crítico e fundamentado sobre a realidade social, conhecendo essa realidade através de instrumentos diferenciados e sistemáticos (que são as metodologias utilizadas em Sociologia), mas também nos permite atuar sobre essa realidade. E essa dimensão transformadora também teve um peso determinante nas minhas opções e na minha continuação na área. Outro aspeto que acho extremamente relevante na Sociologia e no olhar sociológico é que, por um lado, nos permite olhar para as pessoas nas suas relações e, por outro lado, olhar as pessoas nos seus contextos. A Sociologia não simplifica os comportamentos, mas procura compreender os comportamentos à luz dos diferentes contextos em que as pessoas estão inseridas. Isto significa que uma mulher, que uma pessoa negra ou que uma pessoa nascida num contexto socioeconómico menos favorecido terá oportunidades e possibilidades diferenciadas e atuará também de uma forma diferenciada. E agir sobre a origem destas diferenças, que frequentemente discriminam e tornam vidas menos favorecidas, é algo que também me motiva e me fascina na Sociologia.
O que me trouxe para estas diferentes áreas foram projetos distintos e articulações que tornaram estas áreas consistentes num racional que para mim faz sentido. Comecei num projeto de igualdade de género, mais concretamente na área da conciliação do trabalho e da família. Os estudos de género foram o core desde o início do meu trabalho, muito orientado para as questões do mercado de trabalho e da articulação da vida profissional com a vida familiar, nomeadamente a maternidade e a paternidade e as suas dinâmicas. A avaliação de políticas públicas surge na sequência de projetos de investigação mais clássicos que fizeram surgir outros projetos de avaliação. Envolvi-me, desde muito cedo, na avaliação de projetos, de programas e de políticas no âmbito da igualdade de género, nomeadamente na avaliação dos planos de nacionais para a igualdade, mas também projetos das organizações da sociedade civil para a promoção da igualdade de género numa perspetiva de avaliar, como especialista, os planos e projetos. Foi assim que comecei a articular a avaliação de políticas públicas com a igualdade de género, porque ela está concretizada e operacionalizada através de políticas públicas nacionais, que depois de operacionalizam de uma forma mais específica em programas e projetos que são implementados pelas organizações de economia social. E aqui tudo se relaciona. A economia social surge por via do seu papel na promoção de iniciativas de promoção da igualdade de género. Por isso, passei a estar atenta também às organizações da economia social na sua possibilidade de implementar práticas para a igualdade de género, mas também na sua própria organização interna, para perceber até que ponto é que essas organizações são equilibradas do ponto de vista de género, por forma a desenvolverem estes projetos.
O meu doutoramento já surge desta articulação entre as áreas. Enquanto estava a desenvolver um projeto sobre economia social e o papel das organizações do terceiro setor na igualdade apercebi-me de que havia uma mobilização muito grande destas organizações para avaliarem o seu próprio trabalho por força do financiamento das instituições tutelares. Acabei por ficar curiosa com o papel que a avaliação tinha na aprendizagem destas organizações, nas várias dimensões em que a avaliação pode ser desenvolvida, quer em termos da dinâmica na estrutura interna e da sua gestão de recursos humanos, quer em termos da avaliação dos seus programas sociais. O meu doutoramento fugiu um bocadinho das questões de género para se fixar nas organizações e nas dinâmicas organizacionais. Portanto, ganhei esta competência da análise organizacional de uma forma mais aprofundada e também da gestão das organizações de um ponto de vista mais amplo. Quando terminei o doutoramento acabou por surgir um convite ao CES para integrar uma parceria de um projeto Horizonte 2020, um projeto europeu, com o objetivo de implementar planos para a igualdade de género nas instituições do sistema científico, quer em universidades, quer em entidades financiadoras. E dado que estava a terminar o doutoramento e dada a experiência que tinha em projetos de investigação-ação (já tinha trabalhado num projeto para a construção de instrumentos para a integração de planos para a igualdade na administração local) tinha já algum conhecimento que me permitiria liderar, no contexto da Universidade de Coimbra, a iniciativa. É o primeiro grande projeto que coordeno a nível local com esta dimensão de investigação-ação, que sempre me agradou muito. Sempre estive muito vocacionada para a Sociologia aplicada e para o potencial emancipatório que a Sociologia tem de criar mudança, de criar instrumentos e formas de transformação social mais direta. A investigação tem sempre esta vocação, mas a investigação-ação permite-nos pôr a mão no terreno.
Um sociólogo e uma socióloga podem fazer coisas muito diferenciadas, sendo que o objetivo é sempre comum: compreender os fenómenos sociais e as relações sociais através de dados diversos, que podem ser recolhidos e analisados a partir de diversas metodologias. Isto dá às pessoas que fazem um curso nesta área, e que acedem a estes instrumentos, a possibilidade de trabalhar nas mais diversas temáticas, como a Economia, a Educação, a Ação Social ou o Ambiente, porque lhes permite contribuir para a compreensão da componente social dos seus fenómenos de estudo e, a partir dessa análise, criar instrumentos e conhecimento que podem fundamentar a tomada de decisão nas mais diversas áreas e domínios de ação. Por exemplo, é muito comum as pessoas que fazem Sociologia estarem em organismos da Administração Pública a trabalhar na componente de diagnóstico social na administração local; também é comum estarem nas empresas para fazerem a componente de gestão de recursos humanos, porque os seus instrumentos de trabalho permitem ter uma compreensão muito alargada sobre a forma como os grupos interagem num contexto laboral. Quanto à investigação, é apenas uma das coisas que as pessoas que estudam Sociologia podem fazer. A investigação está muito vocacionada para a produção de conhecimento novo sobre as realidades sociais, nas diversas dimensões da realidade social. E todas as áreas do saber têm uma componente social em que a Sociologia pode dar um contributo para a compreensão das relações integradas nessas áreas. Na investigação dita comum, temos um objeto de estudo, um objetivo e uma pergunta de partida à qual queremos responder e vamos, através das metodologias quantitativas e qualitativas (como entrevistas, inquéritos e outros instrumentos de auscultação), procurar responder às nossas questões e interpretar a informação que nos é dada a partir dos dispositivos de recolha e de produção da informação. As conclusões que vamos retirar deste trabalho vão sustentar a compreensão daquele fenómeno para que as decisões, nomeadamente em termos políticos, possam ser fundamentadas em evidências e não em preconceitos ou em simplificações de uma realidade que é muito complexa.
Neste momento, para mim, o maior desafio que se coloca à minha atividade profissional é o modelo de Ciência. É um modelo de Ciência que se baseia unicamente em projetos competitivos e sustentados, sobretudo, em trabalho precário, o que, na minha perspetiva, não permite fazer avançar a investigação com alicerces que permitam e que potenciem a justiça e a igualdade. Ao longo dos últimos vinte anos, a produção científica e a Ciência têm evoluído muito em Portugal, tem havido um crescimento imenso do número de pessoas a fazer Ciência no nosso país, mas isto tem sido feito à custa de trabalho precário. É uma realidade que não é sustentável e que tem sido alicerçada na autonomia e na paixão que as pessoas nutrem pela investigação, mas que é muito desestabilizadora do ponto de vista daquilo que são as nossas expectativas e planos familiares e pessoais. Isto cria também uma enorme ansiedade e não nos permite ter um projeto de investigação continuado e sustentado, porque o financiamento da Ciência não é continuo. O financiamento da nossa produção científica tem muitas interrupções, a investigação é muito suscetível ao financiamento disponível e, portanto, a nossa própria linha de investigação é muito difícil de sustentar neste quadro de precariedade. A esta tendência de precarização acrescentam-se outras tendências ao nível daquilo que é a dinâmica das instituições de ensino superior, as dinâmicas neoliberais da produção científica e as dinâmicas dos indicadores bibliométricos que nos distanciam do trabalho colaborativo e nos distanciam de uma slowciology. Este foco na bibliometria é mais prejudicial para alguns grupos de pessoas, como é o caso das mulheres e de pessoas com responsabilidades familiares ou o caso das Ciências Humanas e Sociais, que tradicionalmente são menos produtivas em termos daquilo que é o output científico. Para mim estes são os principais desafios que se colocam à investigação em Portugal.
A resposta a essa pergunta é simples: porque a igualdade de género ainda não existe, não obstante os muitos avançados que têm sido feitos ao longo de muitas décadas e que redundaram, nomeadamente, na igualdade legal entre homens e mulheres, e noutros domínios de género, que também se verifica na elevada participação das mulheres no mercado de trabalho. Mas ainda existem desigualdades e assimetrias muito marcadas nas oportunidades de participação, de reconhecimento e de valorização entre homens e mulheres. Estas desigualdades são comuns a vários domínios sociais, desde a vida pessoal à vida familiar, mas também no mercado de trabalho, no domínio da saúde, na economia, na tomada de decisão. A nível familiar, as mulheres continuam a ser sobrecarregadas com o trabalho doméstico e de cuidado, apesar de trabalharem quase o mesmo número de horas que as pessoas com quem vivem. As mulheres continuam a estar sub-representadas na tomada de decisão a nível político, mas também a nível empresarial, embora existam diversas leis para a representação equilibrada nos órgãos de decisão, quer a nível político, quer a nível institucional, quer na Administração Pública, quer nas empresas. Apesar de haver contributos no sentido de atenuar este desequilíbrio, as mulheres continuam a estar concentradas nos níveis mais baixos das carreiras profissionais, ocupando posições menos qualificadas embora tenham níveis de educação superiores aos homens. Continuam a existir também barreiras psicossociais para a participação das mulheres na tomada de decisão, em que a socialização dos rapazes para a coragem e a audácia contrasta com a socialização das raparigas para a procura de segurança e da cautela, que lhes permite arriscar menos. Estes estereótipos e esta socialização para os papéis de género desde a infância também têm um impacto muito significativo naquilo que se dizem ser as escolhas profissionais das mulheres. E aqui chegamos também ao fenómeno da segregação ocupacional, com mulheres e homens a concentrarem-se em áreas profissionais distintas. À partida, isto não seria um problema se estas áreas distintas não tivessem também valorizações distintas: as áreas em que as mulheres se concentram mais são extensões daquilo que fazem um pouco a nível pessoal e familiar. Falamos das áreas das Ciências Humanas e Sociais, que são menos valorizadas e pior remuneradas. Ao passo que as áreas em que os homens se concentram, em particular nas Engenharia e Tecnologia – onde, apesar da ideia contrária, as mulheres têm vindo a participar cada vez menos –, são as áreas onde há uma maior empregabilidade e onde os salários são maiores. E isto também se repercute naquilo que são as dinâmicas salariais: as mulheres recebem menos do que os homens em termos globais e também recebem menos para desempenhar as mesmas funções. Estes são alguns exemplos das desigualdades que continuam a existir e que, por isso, merecem o desenvolvimento de estratégias que possam mitigar os obstáculos que estão na base das assimetrias à participação e à liberdade de escolhas e de realização que homens e mulheres merecem.
O projeto SUPERA desenvolveu um diagnóstico organizacional, do ponto de vista da igualdade de género, logo que teve início, em 2018. Os resultados do diagnóstico saíram em 2019, depois de um diagnóstico aprofundado na Universidade de Coimbra no que toca à igualdade de género. As conclusões que tirámos estão muito em linha com aquilo que se verifica noutros contextos académicos a nível nacional, mas também a nível europeu. As tendências são comuns. Apesar da participação praticamente equilibrada de homens e mulheres nas instituições de ensino superior – a nível nacional e também na Universidade de Coimbra –, em termos globais, no pessoal técnico há uma sub-representação muito acentuada de homens (a maioria são mulheres), o que é comum a outras entidades do ensino superior; e no caso do pessoal docente e investigador, temos mais homens, mas já temos uma proporção significativa de mulheres, 46%, sendo que na investigação o número de mulheres é mais equilibrado, também muito por conta da sua concentração nos vínculos mais precários. Já na carreira de investigação (que são as poucas pessoas que têm um contrato e que estão inseridas na carreira de investigação nas universidades), as mulheres são uma minoria e, ao contrário do que seria de esperar pela evolução natural das coisas, tem havido um afunilamento da entrada de mulheres na carreira de investigação, sendo as mulheres prevalecentes nos contratos a prazo e nas bolsas de investigação.
Apesar de haver um equilíbrio geral nos números, estes números escondem enviesamentos muito significativos e assimetrias muito vincadas, especificamente em termos daquilo que é a presença das mulheres académicas nas posições mais baixas da carreira académica, quer da investigação, quer da docência. À medida que subimos na hierarquia académica, as mulheres vão desaparecendo; têm menos acesso a financiamento para a investigação; gerem, em geral, orçamentos para a investigação inferiores aos que são geridos pelos homens; concentram-se mais do que os homens em contratos precários; e, globalmente, ganham menos do que os homens, também por se concentrarem em categorias mais baixas da hierarquia académica. Apesar de muitas destas desigualdades estarem associadas aos processos de socialização de género, em particular a presença de homens e mulheres em áreas distintas (as mulheres estão representadas em todas as áreas científicas, mas estão particularmente ausentes nas Engenharias e Tecnologia, áreas onde existe atualmente um maior volume de emprego e uma tendência crescente em Portugal e no mundo, até por causa da digitalização das profissões), e se deverem a fatores sociais e culturais mais amplos, a verdade é que as instituições também produzem e reproduzem desigualdades. Existe a ideia, eu diria que errada, de que o mérito e a excelência governam as práticas das universidades, mas na verdade essa naturalidade não existe. Existem mecanismos, frequentemente muito subtis, que discriminam e que criam estas desigualdades. Alguns destes mecanismos são, por exemplo, os padrões duplos na avaliação do desempenho de mulheres e de homens, em que as mulheres têm que fazer muito mais para merecer o mesmo reconhecimento que os homens (o chamado efeito Matilda, a menor valorização e a marginalização dos contributos das mulheres cientistas relativamente aos seus homólogos masculinos). Se nós pensarmos também nos padrões de mérito científico, estes são muito desenhados para um modelo masculino, porque o foco na produtividade científica e nas métricas científicas acaba por beneficiar mais as áreas científicas onde se concentram os homens e prejudicam aquelas pessoas que têm uma maior orientação para a docência. Por outro lado, as mulheres académicas estão muito mais sobrecarregadas com o chamado trabalho doméstico académico, que é o trabalho de gestão que ninguém quer fazer, e com o trabalho de cuidado académico, que é o cuidado com os estudantes, ao qual as mulheres tradicionalmente também dedicam mais tempo. Não menos importante, há também a cultura hostil de conciliação trabalho e família, que pressupõe um tipo específico de trabalhador ideal, que é um trabalhador sem responsabilidades de cuidados, uma pessoa que pode dedicar-se a 100% à produção científica. Isto também é particularmente penalizador para as mulheres, mas também para os homens que têm um modelo de cuidados que não é o tradicional e que procuram ter uma participação na vida pessoal e familiar em paridade com as mulheres. Embora aparentemente os critérios sejam neutros, eles têm um impacto diferenciado em homens e mulheres. Estas desigualdades têm vindo a ser muito pesquisadas em termos académicos e encontrámos alguns destes enviesamentos também na Universidade de Coimbra. Por exemplo, em termos daquilo que é a perceção da marginalização do contributo das mulheres e outros processos de discriminação, estes são mais sentidos pelas mulheres académicas na Universidade de Coimbra, algo que também encontrámos noutras investigações do consórcio.
É essencial. Este documento marca, de facto, um compromisso efetivo da Universidade de Coimbra – assim como marca um compromisso efetivo de outras universidades – com a ação proativa para a igualdade de género e a diversidade no contexto académico. Por um lado, parte de um reconhecimento que tem sido muito difícil de alcançar de que, de facto, as universidades e as suas disposições, os seus regulamentos e os seus mecanismos não têm sido neutros do ponto de vista de género e que podem produzir e reproduzir desigualdades estruturais. Esse reconhecimento é muito importante, porque na altura do diagnóstico, algo que me impressionou bastante foi a transversalidade da miragem da igualdade, que passa pela ideia de que porque há o mesmo número de homens e de mulheres a estudar e a investigar na Universidade de Coimbra a igualdade já está garantida.
Depois há também a ideia de que as desigualdades e as assimetrias encontradas se devem às escolhas pessoais e não a nenhum mecanismo organizacional. A implementação de um plano para a igualdade reconhece, desde logo, que as instituições podem ter um papel quer na produção destas desigualdades, quer também na atuação para as contornar. E isso é um passo muito significativo no contexto nacional, que no contexto europeu já tem uma história muito mais antiga, porque em muitas universidades da União Europeia os planos para a igualdade são obrigatórios, inclusive na maioria das universidades que compõe o consórcio em que trabalhamos. Por outro lado, a aprovação deste plano está no alinhamento quer das políticas europeias para a investigação, quer também dos novos requisitos de financiamento às instituições do sistema científico. Por exemplo, no novo quadro de financiamento ao sistema científico do Horizonte Europa passa a ser obrigatório que as organizações que se candidatam a financiamento tenham implementado um plano para a igualdade de género.
Este investimento da Universidade de Coimbra, que foi um investimento voluntário, vem bem a tempo, porque no contexto nacional não há obrigatoriedade na implementação do plano, ainda que em 2022 passe a ser obrigatório se a UC quiser aceder a financiamento competitivo europeu. É uma indicação de que a Universidade de Coimbra está empenhada e eu sinto que, de facto, existe essa vontade de começar a fazer um caminho para a própria mudança organizacional, para a revisão dos procedimentos organizacionais no sentido de que as suas práticas e os seus mecanismos possam ser mais inclusivos. O plano inclui um conjunto de medidas muito ambiciosas, são cerca de 56 ações, que procuram fazer face ao caráter multidimensional das desigualdades de género. Articula ações de capacitação e de formação dos agentes estratégicos na Universidade de Coimbra. Articula também com ações de sensibilização e de mobilização da comunidade científica (estudantes, docentes e investigadoras/es) através do desenvolvimento de campanhas de sensibilização e de outras iniciativas de envolvimento das pessoas nestas discussões. Também estão previstas algumas ações de capacitação com foco na capacitação das mulheres e das raparigas, nomeadamente através de ações de mentoria e de bootcamp. Estão previstas ações de prémios para visibilizar mulheres e homens em áreas onde estão sub-representadas/os na Universidade de Coimbra. Temos um conjunto de ações que são apenas um primeiro passo, porque há ainda muita coisa a fazer, nomeadamente para acolher a perspetiva interseccional das desigualdades e a forma como diferentes eixos de desigualdade se intercetam e se reforçam entre si, como o sexo, o género, a orientação sexual, a identidade e a expressão de género, a idade, a etnia ou a incapacidade. Todas estas categorias sociais reforçam as situações de desigualdade. Ainda falta dar este salto para acolher uma perspetiva mais abrangente das desigualdades, ainda que, nas ações de formação, se faça um esforço para chamar a atenção para esta interseção, para a forma como estes diferentes eixos de desigualdade se reforçam. Mas creio que é um caminho que se está a fazer e já se nota que alguma coisa já mexe na UC neste âmbito, sendo um assunto que já se encontra na agenda da Universidade e que já está na boca e nas discussões de uma forma mais sistemática.
Muito me marcaram as professoras e os professores da Universidade de Coimbra, muito em particular a professora Virgínia Ferreira, que efetivamente me inspirou, mas também a Lina Coelho, a Sílvia Ferreira e a Cristina Vieira. Foram pessoas que, ao longo do meu percurso, me inspiraram imenso e foram minhas mentoras neste processo. Foram muito marcantes naquilo que foram as minhas escolhas profissionais ao longo da vida, mas também na minha capacitação como mulher que traz consigo toda a socialização para os papéis de género, como a insegurança, a procura de estabilidade ou algum medo de arriscar. Mais recentemente aconteceram coisas que me marcaram e estas creio que não vou mesmo esquecer. Em algumas sessões que temos feito no âmbito do projeto SUPERA, as ações de formação são sempre muito marcantes, porque sentimos que fazemos mudança. Mudamos as perspetivas, alargamos horizontes e criamos nas pessoas uma reflexividade que em muitas situações senti que não estavam presentes. Desde que o projeto SUPERA teve início, algumas pessoas que estavam a passar por momentos sensíveis vieram ter comigo, embora essa não fosse particularmente a vocação do projeto. E isso marcou-me muito. Estas situações tornaram-me muito consciente do caminho que havia ainda por percorrer, porque, em geral, as pessoas têm alguma dificuldade em perceber os constrangimentos associados a processos pessoais complexos e sensíveis. Isto marcou muito o meu percurso e marcou também muito a minha intervenção no âmbito do projeto SUPERA.
Essa é uma questão muito profunda e que remete quer para as políticas internacionais e nacionais, quer para a ação das próprias organizações e dos movimentos sociais em torno de determinados eixos de desigualdade. Na minha aceção, as desigualdades de género são particularmente relevantes porque, de facto, muito se divide entre homens e mulheres, naturalmente não esquecendo as pessoas não binárias, mas as pessoas transgénero e transsexuais identificam-se frequentemente com o polo feminino ou com o polo masculino. E, portanto, temos um grupo significativo de pessoas, que será metade da Humanidade, que tendencialmente é discriminado. Em termos de escala, temos aqui muitas pessoas que são discriminadas e que tendem a ver a sua posição colocada em causa. Mas isto tem, obviamente, muito que ver com os movimentos sociais e com o que politicamente, a determinada altura, é mais valorizado. As questões de género estão no foco das políticas das organizações internacionais e nas políticas europeias em particular, ainda que também as questões da igualdade racial e as questões LGBTQI tenham uma expressão crescente. As questões do racismo, onde não quero entrar muito porque não sou especialista, têm um constrangimento adicional para se afirmarem como política e como eixo estratégico de ação porque se nega a existência do racismo. Pura e simplesmente se nega que existe racismo, nomeadamente na sociedade portuguesa. Isto tem que ver com a nossa história colonial e prefere-se pintar um quadro em que se coloca a história portuguesa numa feição positiva. Mas creio que a nível nacional vai ser aprovado pela primeira vez um plano de combate ao racismo e isto já é um passo muito significativo para reconhecer estas desigualdades que são prementes na sociedade portuguesa. O caso das pessoas com incapacidade e deficiência é também uma questão importante, que também é relegada. Apesar de terem existido estratégias nacionais para a inclusão das pessoas com incapacidade e deficiência, como se trata de um número que, politicamente, não é muito elevado acabam por ser relegadas. Esta, creio eu, é a realidade.
A questão de género é muito transversal, mobilizou ao longo de centenas de anos feministas e mulheres, tem uma história de implementação e de luta muito mais estruturada e antiga e politicamente é melhor acolhida. Mas também devo dizer que, até por via da pressão para a adoção de uma perspetiva interseccional, esta não é fácil de implementar, porque para além das questões transversais, nós temos que considerar as questões específicas das pessoas com deficiência e as questões raciais. E nós temos que considerar a perspetiva de género com todas estas dimensões de desigualdade, mas todas as questões de desigualdade têm também a sua especificidade que é preciso acolher. Nos últimos anos, em particular ao nível da Comissão Europeia, tem havido um foco cada vez maior no gender +, que passa por não considerar o género isoladamente, mas considerar também outras questões de desigualdade. Em termos práticos, tudo isto é muito difícil de implementar porque implica uma expertise muito grande em diversas áreas, com pessoas com conhecimento nestes vários níveis de ação. Há a necessidade de uma articulação inter temática, que também é desafiante em termos metodológicos e de operacionalização, em qualquer política e estratégica que procure colmatar estas desigualdades.
Cada pessoa tem o seu papel nestes caminhos para a igualdade na UC. Acho que é importante termos um pouco de olhar sociológico, um pouco de capacidade de questionar as nossas próprias práticas, os nossos próprios enviesamentos na forma como percecionamos as pessoas e os grupos. É importante ter um olhar crítico sobre a forma como nós reproduzimos – de uma forma inconsciente – estereótipos, nomeadamente estereótipos de género, e pensar nas implicações que isso pode ter em termos individuais e em termos sociais. Creio que este é um contributo importante para nos redimensionarmos e atenuarmos os efeitos dos nossos próprios enviesamentos. Isto acontece num nível muito micro, que passa pela capacidade de reconhecermos que todos nós somos um bocadinho sexistas, que todos nós somos um bocadinho racistas, que todos nós somos um bocadinho homofóbicos porque a nossa experiência pessoal, a nossa história, as nossas origens e a nossa socialização nos foi formando e formatando para nos distanciarmos daquilo que não é o nosso in group, para nos distanciarmos daquelas pessoas que não têm as nossas características. Todos nós desenvolvemos estas categorizações e estas generalizações que são redutoras e que têm um impacto na tomada de decisão. E como têm um impacto na tomada de decisão e nos nossos comportamentos isto acaba por ter um impacto na forma como desenvolvemos a nossa atividade profissional também. E a perspetiva de género coloca-se numa componente relacional em todo o tipo de trabalho que façamos, como, por exemplo, na forma como nos articulamos com clientes ou na forma como desenvolvemos a nossa investigação. Por exemplo, uma pessoa que está a fazer investigação na área da produção e da criação de medicamentos, se não considerar a forma como os medicamentos são processados de maneira diferente em homens e mulheres, vai produzir medicamentos que não são adequados para ambos os sexos. No caso da relação entre pessoal médico e utentes, nós sabemos que as mulheres são biologicamente mais sensíveis à dor e que os homens são menos sensíveis à dor e tendem a ir menos ao médico. E como os homens tendem a ir menos ao médico, pode acontecer frequentemente, numa relação entre médico e utente, que o profissional vá desvalorizar os sintomas das mulheres, porque elas vão mais ao médico, e sobrevalorizar os sintomas dos homens que vão menos ao médico e quando vão é numa situação extrema. O reconhecimento destas diferenças é importante seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado em 09.09.2021