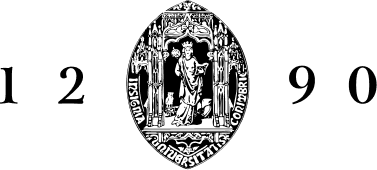Episódio #10 com Paulo Peixoto
Entre a gratificação e a inquietação, assim se constrói a experiência do sociólogo que é hoje o Provedor do Estudante da Universidade de Coimbra
Apesar de, no contexto familiar, o acesso ao ensino superior não ter sido um assunto em cima da mesa, é na universidade que Paulo Peixoto tem construído o seu percurso profissional. Começou em 1989, como estudante, e desde essa altura nunca perdeu o seu vínculo com a Universidade de Coimbra (UC). Hoje é Provedor do Estudante, o órgão da instituição que apoia estudantes na resolução de situações e de problemas. O seu percurso como sociólogo, como professor e como investigador na área da Sociologia não lhe permite ficar confortável nem indiferente perante a realidade que o rodeia e esta inquietação contribuiu para que aceitasse o cargo de provedor, em 2019. Para Paulo Peixoto, a Provedoria do Estudante deve ser um espaço de equilíbrio e de segurança para as/os estudantes, onde procura não apenas orientar a resolução dos seus problemas como também incentivar a sua cidadania académica, capacitando-as/os para o seu papel mais geral enquanto membros da sociedade. Recebeu-nos no Colégio de São Jerónimo, nas instalações da Provedoria do Estudante, para uma entrevista sobre o seu percurso na UC e sobre os desafios da Sociologia, desde que aqui entrou como estudante.
Comecei o meu percurso na Universidade de Coimbra na década de 90, há cerca de 31 anos. Comecei como estudante, no ano letivo 1989/1990, depois iniciei o trabalho como docente no ano letivo 1993/1994 e como investigador e gestor em 1997. Diria que, em qualquer um dos casos, foi um começo um tanto ou quanto atípico. No ano letivo de 89/90, ainda que de uma maneira diferente, foi quase tão atípico como os dois últimos anos letivos por causa da COVID-19, uma vez que esse ano letivo só começou em janeiro. Depois, em 93/94, iniciei o meu percurso como docente, após ter feito Erasmus em 1991/1992. Isto aconteceu no início do programa Erasmus e nessa altura não exista o Processo de Bolonha, e não havia o reconhecimento de graus feitos no estrangeiro. Vim terminar o curso cá, na UC, e acabei por ser convidado, ainda como estudante, para ser monitor e no penúltimo ano do curso era, em simultâneo, estudante e monitor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC). Também na docência iniciei um pouco atipicamente este percurso. Ainda nos anos 90, em 1997, quando concluí o mestrado, fui convidado para entrar no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) como investigador. Ao mesmo tempo, entrei também para a direção do CES e tive a minha primeira experiência ao nível da gestão. Em suma, o meu percurso na UC, em diversas funções, inicia-se ao longo dos anos 90.
No ensino secundário tive várias disciplinas que eram disciplinas novas para mim, sobre as quais nunca tinha ouvido falar ao longo da vida. Não vinha propriamente de um meio social em que fosse muito direcionado para os estudos superiores, porque os meus pais não tinham feito estudos ao nível do ensino secundário. E também não tinha aquilo que temos, por vezes, nessa idade, como é o caso de os pais pressionarem ou indicarem as nossas escolhas. Dentro das várias opções que tinha, lembro-me de ter escolhido, creio que no 11.º ano, Sociologia como uma das disciplinas. Entusiasmei-me bastante com a disciplina, gostei bastante daquilo que a Sociologia fazia e usufruí do facto de ter uma professora jovem, muito motivada. Desde essa altura que fiquei muito entusiasmado! Mais tarde, quando me candidatei à universidade – cheguei à universidade com 21 anos, porque tinha feito paragens para trabalhar antes de chegar ao ensino superior –, só me candidatei ao curso de Sociologia em vários locais do país, com a Universidade de Coimbra em primeiro lugar. Sociologia era, de facto, aquilo que queria desde o 11.º ano, quando tive o meu primeiro contacto com a disciplina.
Diria que, de uma maneira muito sucinta, o contributo essencial da Sociologia é ensinar-nos a pensar criticamente e a refletir criticamente sobre as sociedades em que vivemos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas instituições. Ao convidar-nos a pensar criticamente, convida-nos à ação. Acho que o contributo essencial da Sociologia é que, depois de sermos sociólogas ou sociólogos, nunca mais nos vamos sentir confortáveis na vida para ficarmos indiferentes perante aquilo que estivermos a fazer e a pensar a cada instante. A Sociologia dá-nos esse contributo muito prático, retira-nos de uma situação de indiferença. Acho que nós sociólogos, a partir do momento em que entramos na disciplina, temos um instinto para a ação, para fazer qualquer coisa, para mudar as coisas. E acho que esse é o contributo essencial da disciplina. Diria também que a Sociologia é uma disciplina importante porque nos dá um contributo essencial para percebermos o contexto. Se quisermos dizer de uma maneira simples, a Sociologia é a ciência do contexto. Nós percebemos melhor porque é que em diferentes sociedades as pessoas adotam diferentes soluções para problemas que são comuns. Percebemos melhor porque é que em diferentes sociedades as mesmas instituições, como a família (que é talvez a mais importante e transversal a nível global, apesar de as famílias serem diferentes de sociedade para sociedade e mesmo dentro das próprias sociedades) ou a escola funcionam diferenciadamente. Por exemplo, quando eu estudei, a escola era, mais do que é hoje, um mecanismo de mobilidade social. A escola era incontornável para podermos ter uma posição socialmente mais reconhecida e melhor remunerada do que aquela que era a situação dos nossos pais. Isso mudou. E isso não retira a importância à escola, porque a escola continua a preencher funções importantes. Mas é verdade que a escola, numa sociedade como a nossa ou noutra, tanto pode ser um instrumento de promoção da mobilidade social ou, como por exemplo no atual Afeganistão, pode ser um instrumento de gestão que dificulta o acesso das mulheres e que promove maiores mecanismo de desigualdade e que contribui para a formação de determinadas elites com determinados preconceitos.
Neste quadro, o contributo mais importante da Sociologia é ajudar-nos a olhar para o contexto, através de vários instrumentos, de uma maneira metódica: com conceitos, com análise, com recolha de dados para perceber que as nossas experiências individuais, ao longo da vida, se encaixam ou não se encaixam em determinados padrões. Nós somos todos indivíduos das tendências que vão acontecendo na sociedade e que em diferentes sociedades se manifestam de uma maneira muito diferenciada. A Sociologia é uma ciência eclética, que cobre muitas áreas, e que deveria ser também importante para o exercício de muitas profissões, que têm uma formação muito estreita que depois prejudica a tomada de boas decisões na sociedade. As formações, em geral, estreitaram-se e ficaram muito disciplinares. Hoje em dia, a Sociologia, mesmo em termos académicos, é a área que potencia uma abertura a uma formação mais eclética, uma disciplina que deveria estar mais presente, inclusive na formação académica em várias áreas.
Tive uma experiência Erasmus enriquecedora, quando fiz mobilidade na Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, em 1991/1992. Nesse ano letivo tive a sorte de ter aulas com o professor Jean Remy, que era um dos maiores conhecedores da área da Sociologia Urbana e dos Estudos Culturais Urbanos. Ele dava as aulas sempre às oito da manhã e era daqueles professores que tinha sempre a sala cheia, mesmo nos dias mais frios. O entusiasmo com que ele dava aulas, o entusiasmo com que ele ensinava aquilo que era a Sociologia e os Estudos Culturais Urbanos marcou-me profundamente e marcou também um conjunto de colegas, de vários países, que foram especificamente para aquela universidade para ter aulas com ele. Eu não fui por essa razão, muito honestamente nem o conhecia nem tinha aptidão para a Sociologia Urbana, mas desde a primeira aula que percebi que era aquilo que gostaria de fazer.
Tive também no percurso outra pessoa que me marcou, a professora Liliane Voyé, que trabalhou e que escreveu com Jean Remy, e que me ensinou muito do ponto de vista prático. Ela ia muitas vezes com os alunos para a rua, dava muitas aulas no meio das cidades. Dava aulas de uma maneira diferente daquilo que é habitual, fora da sala de aula. Os dois professores, cada um à sua maneira, criaram em mim um gosto especial pela Sociologia Urbana. Na altura, mesmo sem o acesso à internet que temos hoje, fiquei sempre muito ligado a eles, por carta ou em congressos internacionais onde nos encontrávamos. Criaram também em mim o gosto em trabalhar no campo da Sociologia Urbana com outras áreas disciplinares e, por isso, trabalho muito com arquitetos, com engenheiros e com outras áreas profissionais e disciplinares que também se interessam e dialogam com a Sociologia Urbana. Foram eles criaram esse gosto especial pela área!
Há desafios que sempre existiram e há outros que são novos. Um dos desafios que sempre existiu, e que continua a ser fundamental para formar as novas gerações de sociólogas e de sociólogos, é despi-los dos preconceitos que trazem quando chegam à universidade. Todos fomos socializados no seio das nossas famílias e esta socialização habitua-nos a olhar para as coisas dando-as por garantidas. Temos sempre muita dificuldade em nos libertar dessas formas de socialização e de reconhecer que certas coisas podem acontecer nos nossos meios sociais, como é o caso do divórcio. E aquilo que é dado por garantido acaba por se tornar em preconceitos que se tornam obstáculos às formas de conhecer e de trabalhar na área da Sociologia. Os sociólogos têm de ser sociólogos da sua própria circunstância, têm de saber olhar para as questões que se colocam nos seus meios e saber usar os conceitos e os métodos analíticos da Sociologia para os analisar. Além de perceber esses problemas, temos que saber agir perante eles, saber como ajudar as pessoas e saber, sobretudo, como é que podemos ajudar a desenvolver políticas públicas, ao nível local e nacional, que ajudem os governos a resolver problemas que existem na sociedade, que nos entram pela porta todos os dias e que provocam uma certa incompreensão sobre os motivos pelos quais acontecem.
Depois há também desafios novos. Vivemos em sociedades multiculturais, em que a diversidade religiosa, linguística e de nacionalidades é cada vez maior por força da mobilidade e dos fenómenos que têm que ver com os refugiados. E um dos grandes desafios para as sociólogas e para os sociólogos é saber como é que podemos pegar nessa multiculturalidade das sociedades e transformá-la em experiências interculturais, em que as pessoas possam aprender com a diferença, para que ela não seja um problema, mas uma oportunidade. Portanto, um dos desafios para as novas gerações dos profissionais da Sociologia é saber como é que em sociedades multiculturais podemos desenvolver políticas e experiências que permitam converter a diferença num desafio de aprendizagem. Há outros desafios que resultam dos tempos em que vivemos. Os sociólogos trabalham muito com dados, sobretudo com dados estatísticos, e hoje a maneira de recolher e de analisar dados está a mudar radicalmente. Esta complexidade da sociedade hoje em dia obriga os sociólogos a usar aquilo que Wright Mills chamou de imaginação sociológica, que passa por saber como é que, a cada momento, a Sociologia se vai adaptar à mudança social e como vai saber analisá-la. E este desafio de usar a imaginação sociológica continua a ser, hoje e sempre, o grande desafio das novas gerações de sociólogos.
Quando fui convidado estava na viagem mais longa da minha vida. Tinha acabado de chegar a Saigão, depois de uma viagem longuíssima – de mais de trinta horas, com vários voos – e quando recebi o convite do nosso atual Reitor, o professor Amílcar Falcão, tomei conta do convite e pedi algum tempo para pensar, porque estava cansado e tinha de me inteirar melhor das circunstâncias e do que é que isso envolvia na reorganização da minha vida. O convite foi feito creio que em março e eu tinha ainda um ano letivo para fechar e, ao mesmo tempo, tinha que assumir funções e isso tornar-se-ia, de alguma forma, pesado. Ponderei e aceitei. Aceitei porque já tinha assumido várias funções dentro da Universidade de Coimbra: tinha sido diretor executivo do CES, tinha sido subdiretor da FEUC, nessa altura dava aulas em vários ciclos de estudo em cinco Unidades Orgânicas da UC e tinha tido outros percursos na UC que entendo como vantajosos para o exercício da função. Entendo, tanto quanto é possível, aquilo que é a UC na sua diversidade. Por conhecer bem a Universidade, senti que estava preparado para esta função. Tinha também, desde os anos 90, a experiência da ligação com os sindicatos de professores e investigadores do ensino superior. Tenho, portanto, uma experiência de mediação que adquiri no sindicato: de falar com as instituições e de falar com as pessoas quando é necessário. Acho que há também características pessoais e também de experiência institucional que tenho e que um órgão como o Provedor do Estudante tem ou deve ter para desempenhar uma função que entendo que é uma função de reequilibrar aquilo que são poderes desiguais dentro da Universidade. O Provedor do Estudante tem de ter um certo perfil que o vocacione para esta capacidade de fazer mediação, de estabelecer diálogos, de ter disponibilidade e paciência. Achei que poderia dar o meu contributo como Provedor do Estudante e que seria um desafio interessante naquilo que tinha sido a minha trajetória até aí. Por tudo isto, não demorei muito tempo a aceitar.
Por um lado, é um trabalho gratificante. Sinto-me reconhecido quer pela Universidade, quer pelos estudantes. Por outro lado, é um trabalho que às vezes é desconcertante. O provedor deve atender aqueles casos em que reconheça legitimidade aos estudantes quando pedem a intervenção da Provedoria e, ao mesmo tempo, deve certificar-se que atende a esses casos se os estudantes tiverem esgotado as tentativas de resolução do problema. Por exemplo, se o problema for de natureza pedagógica, é preciso perceber se o estudante falou devidamente do problema com o professor ou com o coordenador do curso para resolver a questão. Se for de natureza académica, é preciso perceber se falou com o coordenador do curso ou com os serviços para procurar a resolução. Acontece muitas vezes que o problema, aquilo que traz os estudantes à Provedoria, não são interesses legítimos. Ou seja, os estudantes cometeram erros – porque não conhecem os regulamentos ou por outras razões – e o provedor tem que lhes dizer que não têm razão e, neste quadro, procuramos perceber como é que a Provedoria pode, de alguma maneira, minorar esse problema. Às vezes são questões que têm solução, que vão de encontro ao que os estudantes querem, mas outras vezes, no polo oposto, são questões que não têm, de todo, solução e cuja pretensão do estudante não tem o mínimo cabimento porque regulamentarmente não é plausível. Os estudantes desconhecem, muitas vezes, aquilo que são os seus direitos e os seus deveres e, por isso, há um certo desconforto do provedor em lidar com estes casos que são difíceis de gerir porque não são passíveis de ter uma solução. Devo dizer que, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida – como quando estava a fazer o doutoramento ou quando tenho problemas na minha vida pessoal ou profissional – sempre dormi muito bem. E hoje, enquanto provedor, acordo sobressaltado com um ou outro caso que me desconcerta emocionalmente. Por vezes, mesmo não reconhecendo o interesse legítimo dos estudantes, acho que faltam nas instituições, e também no enquadramento a nível geral, apoios que possam ajudar os estudantes. O provedor lida com aquilo que são as situações mais difíceis dentro das instituições, aquilo que poderia ser quase visto como uma doença dentro da instituição, algo que já está numa fase terminal e que já não encontrou solução e que é dramático.
Falo com muita frequência com os provedores das universidades e dos politécnicos, tanto a nível nacional como a nível europeu. Nós partilhamos muito esta experiência e eu diria que este desconforto e sentido de impotência que os provedores sentem – porque não temos poder formal, mas o poder de recomendar, de analisar e de sugerir intervenções – às vezes é gratificante, quando o problema é resolvido favoravelmente, e outras vezes lidamos com a falta ou a demora de resposta dos serviços ou dos próprios estudantes que, de certa forma, “desaparecem” durante o processo de participação. Os provedores são algo que falta às instituições. Hoje as instituições são geridas através de mecanismos informáticos e, por isso, há uma gestão e uma relação cada vez mais impessoal. Muitas vezes, quando há um problema, as pessoas têm que lidar com o sistema – é preciso fazer um requerimento, é preciso pagar um emolumento –, há a falta de um rosto humano e o provedor é, muitas vezes, esse rosto humano. Entre esta mistura de gratificação e de desconcerto interior, o provedor tem o seu espaço e há momentos em que sentimos mais uma coisa que outra. Para terminar, diria que faria bem a todos os docentes e gestores das universidades ser Provedor do Estudante durante 15 dias porque é uma experiência enriquecedora, em que nos apercebemos muito melhor dos problemas que as pessoas vivem no seu quotidiano dentro das instituições, sobretudo os estudantes que estão numa relação de poder assimétrico, porque não são eles que detêm as formas de poder que mais condicionam a vida académica.
Sempre que sinta que os seus direitos não foram cumpridos e sempre que tenha esgotado os mecanismos de resolução desse problema deve recorrer ao Provedor do Estudante. Os problemas de natureza académica, de relacionamento com os serviços e os problemas pedagógicos, de relacionamento com os professores, são as duas dimensões sobre as quais recebemos mais participações na Provedoria do Estudante e tratamos ainda questões relacionadas com a ação social (residências, alimentação e candidaturas a programas de apoio). Os estudantes, sempre que sentem que os seus interesses legítimos foram lesados e sempre que esgotaram os mecanismos de resolução, sem os verem resolvidos, em instância diretas, devem recorrer ao Provedor do Estudante para que ele intervenha. Há uma obrigação dos estudantes que é dupla. O estudante deve pensar que, ao recorrer ao provedor, não está apenas a resolver o seu problema pessoal, mas antes a resolver um problema dos estudantes e um problema da Universidade. Por exemplo, se um professor for sistematicamente reincidente, ano após ano, a incumprir o prazo para o lançamento das notas e isso interferir na inscrição de estudantes na fase de recurso, um estudante, ao denunciar este incumprimento, não está apenas a resolver o seu problema, está a resolver o problema dos estudantes que passam por essa unidade curricular, ano após ano. Sempre que os interesses sejam legítimos – isto é fundamental frisar – e sempre que tenha havido uma tentativa de resolver esses problemas numa instância mais direta e isso não tenha sido possível, os estudantes devem recorrer ao provedor, é para isso que o provedor existe e o provedor atua nessas circunstâncias.
Não será por acaso que a figura do provedor se tem vindo a espalhar em várias áreas da sociedade. Cada vez mais temos provedores, como o Provedor do Animal, para dar um exemplo mais recente. Temos muitos provedores que começam a aparecer não só na sociedade portuguesa, como também na sociedade europeia. A própria União Europeia difundiu muito esta figura. Dentro de uma instituição de ensino superior, obviamente que não são apenas os estudantes que têm problemas. Os funcionários e os professores têm igualmente problemas. Os problemas que afetam os estudantes afetam também o corpo técnico e o corpo docente dentro das instituições e, por vezes, os problemas são partilhados. Acho que o provedor não pode ser visto como uma poção mágica para resolver os problemas, mas é uma solução possível. E sendo uma solução possível, várias instituições têm discutido esta possibilidade e não me admira que futuramente seja uma figura a desenvolver, até pela natureza da intervenção do provedor, que não tem um poder de decisão, mas um poder de persuasão, de diálogo e de intermediação, fazendo a ponte entre os vários grupos. Muitas vezes a complexidade do problema permite-nos perceber que aquele não é um problema que afete apenas uma pessoa dentro da instituição e o provedor pode ajudar a identificar problemas comuns. Fará um certo sentido pensar-se em órgãos como o provedor que possam ser soluções que ajudem a lidar com os problemas de diferentes grupos.
Há momentos que foram muito marcantes e que me tornaram num sociólogo da minha própria circunstância. Nasci no interior de Portugal e a universidade para mim nunca foi um horizonte natural, porque nas escolas que frequentei poucas pessoas chegavam ao ensino superior. Os meus pais têm ambos a quarta classe e eu não cresci numa casa em que se ouvia propriamente falar sobre ir para o ensino superior. Mas o meu ingresso na universidade acaba por acontecer, com 21 anos. Na altura em que decidi frequentar um curso superior, estava a trabalhar, ganhava um salário e hesitei bastante em vir, porque ia largar um emprego e algo que gostava de fazer. E tive várias indecisões sobre se deixava a universidade para voltar ao trabalho. Foi um episódio de indefinição, reconheço, que não foi fácil gerir. Também durante o meu Erasmus, pensei em ficar na Bélgica e não regressar, mas acabei por regressar a Coimbra, mas sempre com uma certa ideia de depois voltar à Bélgica e fazer carreira dentro União Europeia, porque na altura precisavam de preencher quotas com portugueses. Quando regressei, fui convidado para ser monitor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, para dar aulas. Acabei por nunca mais sair da FEUC e tornei-me docente. Há outros momentos que também foram marcantes. Em 1997, houve uma contestação por causa da revalorização social dos docentes e dos investigadores e houve uma grande mobilização dentro das faculdades a nível nacional. Nessa altura, estava no início da minha carreira docente e acabei por ser quase “empurrado” para representar os docentes nas comissões nacionais. Isso acabou por me levar para o mundo sindical. Os sindicatos, as mesas de negociações das leis e dos estatutos da carreira, que eu vivi por dentro, são coisas que recordarei para toda vida como um momento que me formou e que me ajudou a perceber melhor as instituições.
Gostaria de enfatizar isto: os estudantes têm direitos e deveres. E é bom que as pessoas percebam que o mundo da universidade e da academia não é diferente daquilo que se passa lá fora. Existe o dever dos prazos, seja um prazo para pagar uma dívida às Finanças, para apresentar a declaração de IRS ou para fazer uma inscrição. E as pessoas têm de olhar para a universidade como uma instituição onde esses deveres e esses direitos têm exatamente a mesma importância, o mesmo valor e as mesmas responsabilidades que depois têm na sociedade. É fundamental que os estudantes adquiram esta noção do sentido do dever e dos direitos. E sempre que entendam que os seus direitos não estão a ser respeitados devem procurar resolvê-los, porque essa é a sua obrigação enquanto cidadãos. Os estudantes não devem ficar numa situação de inelutabilidade, numa situação de passividade, e devem confiar no Provedor do Estudante. Muitas vezes as pessoas sentem-se inseguras por estar a falar com o provedor. E eu queria passar esta mensagem: o provedor, eu ou outro que venha, respeitará sempre a vontade das pessoas que querem o sigilo. É verdade que há situações que não se podem resolver sem que a identidade seja revelada, mas em mais de 95% das participações que recebo as pessoas não me pedem sigilo. Mesmo que não o peçam, só revelo o nome das pessoas se isso for fundamental para procurar resolver o problema. Temos de acreditar que é possível fazer alguma coisa e que o provedor deve, e tem de, fazer alguma coisa. A Provedoria é, muitas vezes, o ponto que tenta reequilibrar as coisas tanto quanto é possível. A Provedoria existe para ajudar os estudantes a fazer valer os seus interesses legítimos e é importante que os estudantes sintam a sua identidade enquanto estudantes, que sintam o seu problema não apenas como individual, mas como um problema coletivo, que também afeta outros colegas. A universidade, como outras instituições, tem os seus problemas. Mas é aqui que, em geral, passamos os melhores tempos das nossas vidas. Temos de estar comprometidos com esse desafio coletivo.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado em 26.08.2021