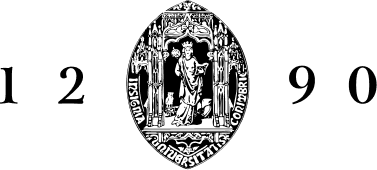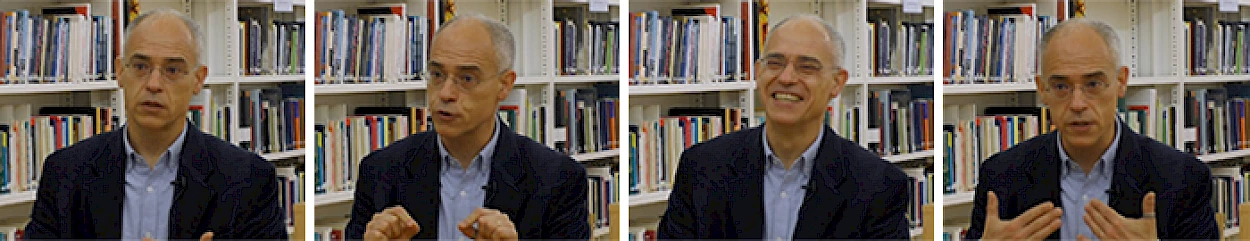Episódio #1 com Carlos Camponez
Ser professor e ser jornalista: o desígnio de mudar o mundo e chegar às pessoas
Tomando como mote o Dia do Jornalista, que se assinala em abril, convidamos Carlos Camponez, Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, para uma conversa na Biblioteca de Jornalismo sobre o seu percurso e questões estruturantes do jornalismo e da comunicação. Falamos sobre o jornalismo enquanto um serviço voltado para as pessoas, sobre o acompanhamento da verdade quotidiana e também sobre a comunicação enquanto espaço de liberdade partilhado.
Recordo-me que decidi fazer jornalismo antes de iniciar o 12.º ano. Lembro-me de ter ouvido ou lido – já não me recordo com rigor –, que as profissões que na altura ainda tinham uma dimensão de aventura eram as de jornalista e a de missionário. E eu acabei por optar por ser jornalista. Recordo-me que nós estávamos numa altura de alguma convulsão, de algumas mudanças na Europa. Recordo-me das greves do Solidariedade, em Gdansk, e de seguir com muita atenção o trabalho jornalístico que se fazia sobre os acontecimentos, na Polónia. É verdade que também, durante a minha formação, dobrava jornais, tive essa proximidade com o jornalismo. Isso fez com que o jornalismo se tornasse numa possibilidade de profissão, de vocação, que eu quis desenvolver. Havia também aquela ideia de mudar um pouco o mundo, de contribuir para que as coisas mudassem à nossa volta. Foram esses os grandes ideais que me trouxeram ao jornalismo.
Acho que estou a fazer as duas profissões que mais desejei, um pouco pelos mesmos motivos. Não propriamente que a profissão de professor seja uma profissão de aventura, no sentido em que acabei de falar, mas tem uma marca também que me parece importante que é a de responsabilidade, de tentar mudar um pouco o mundo à nossa volta através das gerações com que contactamos e formamos. A possibilidade da docência surgiu quando estava no jornalismo. Na altura, a Universidade Católica queria alguém que tivesse conhecimentos de jornalismo para um dos seus cursos e quando eu concluí a universidade para mim era claro que eu gostaria de continuar os estudos sobre o jornalismo através do mestrado. Entendi que ao dar aulas na Universidade Católica, seria o momento de também fazer o mestrado. Portanto, fiz a licenciatura, depois, fiz 12 anos de profissão, a seguir o mestrado e, finalmente o doutoramento.
Começou em 2002, em janeiro, e resulta um pouco do trabalho académico que fui desenvolvendo. Depois do mestrado fui convidado para dar aulas na Universidade de Coimbra. Se, numa primeira fase, quando fiz o mestrado, não tinha pensado muito seriamente numa carreira académica, quando essa questão me foi colocada, aí, sim, pensei nessa possibilidade de uma forma séria. Embora hoje ainda mantenha a carteira profissional de jornalista, é a atividade académica que ocupa o essencial do meu tempo. Mantenho ligações com o jornalismo, algumas colaborações e também ligações com as estruturas representativas dos jornalistas – o Sindicato dos Jornalistas, o Conselho Deontológico. Mantenho um pouco o pé nos dois lados, embora, no caso do jornalismo, sem fazer aquela parte de que eu gostaria mais de realizar: o trabalho de noticiabilidade, de reportagem, de contacto com as pessoas. Essas são as partes para mim mais gratificantes do jornalismo.
Hoje, como no passado, um desafio que me parece fundamental para o jornalismo e para o ensino do jornalismo passa por sublinhar a dimensão pública e de serviço público que representa trabalhar a informação hoje. Eu diria que essa dimensão de responsabilidade, de serviço público, hoje talvez seja mais importante que foi no passado, por uma razão muito simples: hoje vivemos num contexto de muitos média, muitas formas de comunicação, de redes sociais, e essa fácil acessibilidade ao espaço público pode diminuir essa perceção acerca da importância do serviço público para com a sociedade que o jornalismo, em meu entender, deve sempre conservar. E se não conservar, em meu entender também, corre o risco de se diluir com outras profissões e mesmo desaparecer. E, a meu ver, existem alguns sinais preocupantes nesse sentido.
Há um trabalho muito gratificante no exercício do jornalismo: contactar e falar com as pessoas. Trata-se de entender os problemas que, muitas vezes, no espaço público se colocam de uma forma abstrata e perceber como é que esses problemas depois são vividos pelas pessoas, as interpretações que elas fazem acerca desses problemas. Diria que é uma escola de vida na qual nós estamos sempre a aprender e isso passa-se quando a nossa atividade é contactar cidadãos. Tive a possibilidade de fazer os dois jornalismos que eu mais gostava, que é o jornalismo internacional e o jornalismo local, e nessa dimensão do jornalismo local era precisamente o contacto com as pessoas que foi mais gratificante: ter a perceção de que se nós não falássemos com as pessoas havia histórias, havia factos importantes ao nível regional que nunca teriam expressão pública, porque os média, em Portugal, estão muito focados nos acontecimentos políticos, por um lado, e nos grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa e Porto. No caso do ensino, aquilo que é mais gratificante é ter o contacto com os alunos, dar aulas. De repente os alunos saem do nosso radar e, mais tarde, vemo-los aparecer nos órgãos de comunicação social a fazer bom trabalho, a fazer o seu percurso. E devo dizer que no caso da Licenciatura em Jornalismo e Comunicação temos bons representantes, um bom lastro que me satisfaz bastante.
No atual contexto das redes sociais, da multiplicidade de órgãos de comunicação social, o grande desafio, em meu entender, é a dimensão de serviço público, é fazer um serviço voltado para as pessoas. Nós, se consultarmos as redes sociais, percebemos que há um conjunto de comunicadores, que comunicam com a sociedade no contexto daquilo que na sociedade portuguesa e na legislação se define órgãos de comunicação social, mas que são, de facto, projetos muito individuais, às vezes com objetivos próprios. E isso não é mau, isso é interessante, é importante que as pessoas tenham acesso ao espaço público. O que é que o jornalismo tem que fazer neste contexto? É marcar a diferença e mostrar como é indispensável, não obstante a diversidade, a pluralidade, de conteúdos que existem. Isso é absolutamente decisivo. Eu diria até, de uma forma provocadora, que se o jornalismo não conseguir marcar a diferença relativamente a essa realidade, não vejo que ele seja necessário. Também, não vejo, para já, que seja possível dispensar a profissão de jornalista. Não só não vejo que isso seja possível, como penso que será muito perigoso para a democracia. Falo do jornalismo independente, de uma informação distanciada, séria, aprofundada, quotidiana. Essa é, e será sempre, a grande fragilidade do jornalismo: constituir verdades quotidianas. Mas esse papel é indispensável para que as pessoas possam ter informação disponível para as suas decisões quotidianas, para a sua representação do mundo no dia a dia e para as suas decisões para um projeto de sociedade em comum. Essa relação entre política, democracia e o jornalismo é essencial. Se se perder essa âncora não sei se não se perderá também a ideia de indispensabilidade do jornalismo.
Os acontecimentos têm demonstrado que não se conjuga. Nós, muitas vezes, confundimos duas dimensões: uma, que têm a ver com uma dimensão económica da informação e, a outra, com a dimensão de responsabilidade social e de serviço público da informação. A verdade jornalística distingue-se de uma grande parte da generalidade de outras verdades – a verdade científica, a verdade histórica, por exemplo – em grande parte por causa dessa relação difícil com o tempo. Difícil, mas necessária. O objetivo do jornalismo não é escrever a História, é narrar o quotidiano com as circunstâncias do próprio quotidiano, com os preconceitos, com as dificuldades em verificar a informação no próprio quotidiano. No entanto, nessa relação com o quotidiano, o jornalismo tem de ser também um espaço de paragem, de alguma reflexão e de não ser um jornalismo pronto a disparar, a qualquer momento. Isso tem sido objeto de alguns momentos onde o próprio jornalismo se descredibiliza. O jornalismo também precisa de alguma reflexão, de algum distanciamento. Acho que isso é possível, não obstante essa dimensão quotidiana, essa necessidade de ter conteúdos informativos todos os dias prontos para fornecer às pessoas, ao público, à sociedade. Muitas vezes essa pressão tem objetivos sobretudo comerciais do que propriamente objetivos relacionados com a urgência da informação. E, por vezes, quando se misturam as duas coisas quer a informação, quer o conteúdo comercial acabam por sair prejudicadas. Um média que sistematicamente divulga informação errada, que tem que ser depois desmentida, acaba por contribuir para a sua descredibilização e, de alguma forma, desvalorizar o seu próprio produto informativo.
Penso que a pandemia colocou alguns desafios importantes ao jornalismo e, inclusivamente numa outra dimensão, também mostrou as suas fragilidades. Os jornalistas sofreram um grande impacto com os efeitos da pandemia. Muitos deles passaram a trabalhar em casa, muitos deles ficaram em lay-off, as redações desertificaram-se, os jornalistas tiveram que enfrentar novas formas de trabalho. Penso que o jornalismo está a enfrentar um grande desafio precisamente por causa disso. O jornalismo é uma profissão de rua, é uma profissão de contactos, é uma profissão que precisa de ter realidade na sua narrativa. Um jornalismo feito a partir de casa, ou mesmo feito sentado a partir das redações, é um jornalismo que tende a diminuir de qualidade. A questão de ser feito a partir de casa agrava o problema. Porquê? Porque o jornalista precisa de trabalhar com os outros colegas. Os outros colegas, são referências, são pessoas que ajudam no nosso trabalho. Uma redação não é apenas trabalho individual, é um espaço onde se partilham pontos de vista, é também um espaço de trabalho coletivo, de partilha de fontes, de partilha de contactos, de alertas, de discussão de trabalhos. Quando os jornalistas ficam confinados ao espaço de casa, a relação de trabalho que se estabelece é muito mais hierárquica, ou seja, entre os jornalistas e as chefias em vez de também ser entre os jornalistas e os outros colegas de profissão. Isso é muito importante no dia a dia dos jornalistas. Só quem nunca trabalhou numa redação não entende essa dimensão. Existem outras dimensões também muito importantes. Uma delas é o impacto económico que a pandemia teve nos média. Esse impacto económico já se começou a verificar em Portugal com alguns casos de despedimentos, feitos por grupos económicos que começaram, como se costuma dizer, a proceder a uma racionalização de recursos humanos.
A COVID-19 teve um impacto muito importante na imprensa regional. Nós, normalmente, esquecemo-nos dessa realidade. A meu ver é uma realidade muito sensível na medida em que há regiões, há concelhos que sem essa imprensa regional deixam de ter informação sobre eles próprios. E, sobretudo, deixam de ter informação sobre eles a partir de um olhar da própria região. Ou seja, sem a imprensa regional as pessoas quando recebem informação acerca da sua localidade é a partir dos média nacionais. Os média nacionais geralmente interessam-se pela informação local quando há uma coisa mais folclórica, um crime ou um acontecimento mais inusitado, mas o quotidiano das regiões não aparece nos média nacionais. Compreende-se isso: são média nacionais. Mas isso enfatiza a importância dos média regionais. Os média regionais estão a enfrentar desafios muito grandes, muitos deles deixaram de se publicar. Mas se isso de alguma forma forçou um novo tipo de trabalho, como está também a acontecer nos média nacionais, se provocou uma reconfiguração da forma como se faz jornalismo, não necessariamente trouxe novas soluções. E esse impacto nós vamos vê-lo proximamente.
Acho que a recomendação que me parece mais óbvia é que as pessoas devem procurar informar-se em órgãos de comunicação social que consideram que são credíveis. É preciso evitar informar-se pelas redes sociais, mesmo que a informação que esteja nas redes sociais venha dos próprios média. Mesmo nesses casos, quando nos chega essa informação, às vezes ela já vem deturpada e descontextualizada. Acho que a comunidade académica das universidades tem uma responsabilidade relativamente à informação, porque a questão da informação é também decisiva para as próprias universidades. A forma como os média informam, a forma como a comunidade académica se informa e a forma como a comunidade académica chega à sociedade através dos média é absolutamente decisiva. E isso significa que a comunidade académica deve apoiar também os média. A forma de o fazer é, precisamente, informar-se junto dos média. Pessoalmente, penso que a comunidade académica tem a responsabilidade de assinar órgãos de comunicação social e de os ler com regularidade. E, sobretudo, uma outra dimensão, que nós normalmente nos esquecemos: exigir responsabilidade dos média e dos jornalistas. Sempre que alguma coisa estiver mal denunciar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que um público ativo, interveniente, faz mudar os média. Aliás, a minha experiência profissional leva-me a considerar que, muitas vezes, os jornalistas precisam desse público ativo a comentar os próprios média. Inclusivamente, isso é necessário para os jornalistas ganharem força, dentro das redações, junto das chefias, junto dos proprietários dos média, para exigirem também mudanças nas políticas editoriais. Isso é, também, muito importante.
Tenho falado muito na importância de desenvolver uma cidadania mediática, que tem como uma das suas componentes a participação do público nos média. Obviamente isso não exclui a responsabilidade dos jornalistas, a responsabilidade dos proprietários dos média, a responsabilidade das universidades. Tenho tentado suscitar essa discussão: começa a ser também tempo de as universidades pensarem que formação estão a dar aos futuros jornalistas. Essa questão tem que ser também questionada. As universidades são, em Portugal, o principal espaço de formação dos jornalistas que nós encontramos hoje nos média. Portanto, as questões que nós discutimos ao longo desta conversa a propósito da responsabilidade, a propósito da forma como se faz informação, o distanciamento, as pressões relativas ao tempo, essas questões têm que ser discutidas na universidade. A universidade não deve ser apenas um local de formação de operadores de média, operadores no sentido de pessoas que conhecem uma narrativa, que sabem fazer títulos, sabem fazer leads, sabem fazer notícias. Certamente que saber fazer isso é absolutamente essencial para o exercício da profissão. Mas é necessário perceber a dimensão profunda do que é fazer uma notícia: isso nem sempre é acessível a todas as pessoas e é esse papel que as universidades têm que desenvolver.
É decisivo que, no atual ecossistema de média, nós consigamos claramente identificar a informação importante da informação que, simplesmente, não o é, e que é feita para manipular ou distrair. Essa dimensão é também desafiante para a comunidade académica. Eu tenho sublinhado muito a ideia de responsabilidade dos média. Mas essa responsabilidade tem uma outra dimensão também: a responsabilidade do próprio público. Esse desafio passar por regressarmos a alguns valores fundamentais. Na nossa vida, nem tudo se equivale a tudo. E, de facto, esse reconhecimento da diferença, esse reconhecimento dos valores é absolutamente essencial para nós entendermos também como comunicamos. A comunicação é comunidade; uma relação entre mim e os outros. E essa dimensão precisa de estar presente. A comunicação é um espaço de liberdade, mas é um espaço de liberdade que é partilhado. A comunicação é essencial para a constituição de comunidades, para a constituição de identidades e também para a construção de projetos comuns de sociedade.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro e Inês Coelho, DCOM
Imagem e Edição de Vídeo: Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado em 22.04.2021